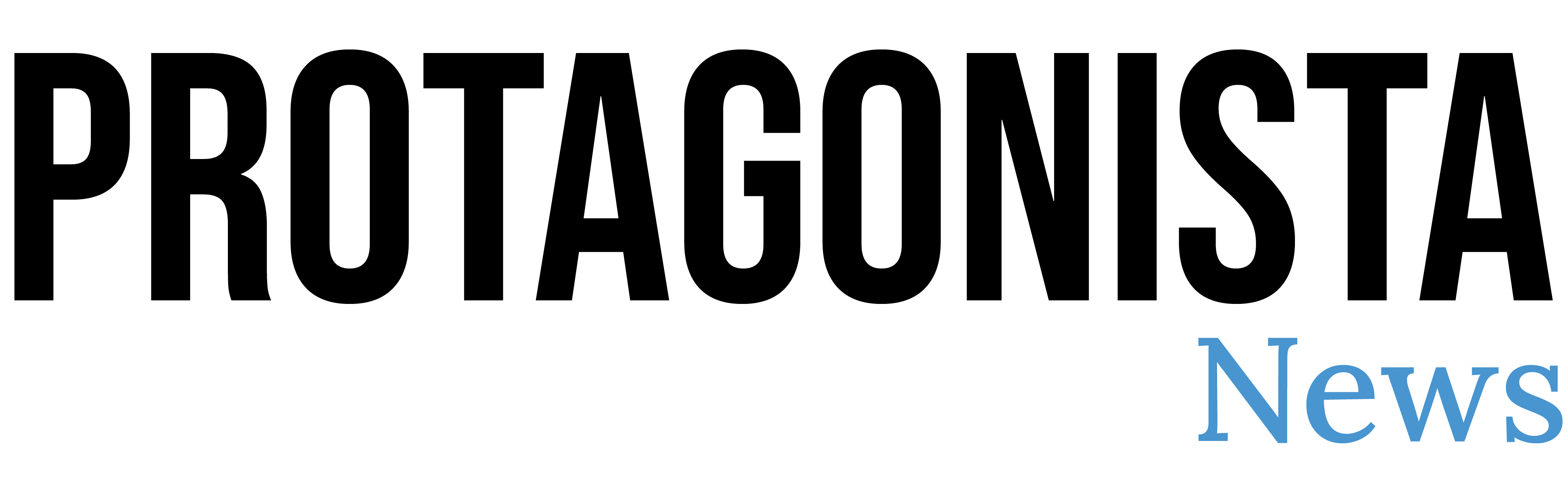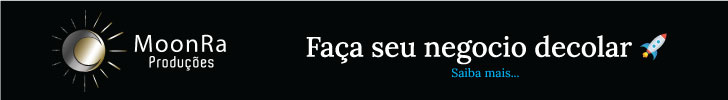Sentado às margens do rio Fitzroy, na remota Austrália Ocidental, observando uma nuvem de fumaça de um incêndio florestal distante subindo no ar, o ancião aborígine lamentou como a geração de seus pais trabalhou por açúcar, farinha e chá, e não por salários, e sua comunidade agora depende fortemente do bem-estar social depois que os programas de emprego foram retirados pelo governo.
Mas “alguma coisa está por vir”, disse Hector Angus Hobbs, 67 anos, que é membro da tribo Walmajarri. “Nos vamos ganhar.”
Seu otimismo inabalável será testado no sábado, quando a nação votar um referendo que daria aos indígenas australianos uma voz no Parlamento na forma de um órgão consultivo.
A proposta, mostram as pesquisas, é amplamente apoiada pelos povos indígenas do país, que representam menos de 4% da população do país. Muitos deles veem isso como um sinal de que a Austrália está dando um passo para fazer o que é certo por eles, após séculos de abuso e negligência. Hobbs e muitos de seus vizinhos na cidade de Fitzroy Crossing acreditam que isso ajudaria em tudo, desde resolver problemas cotidianos, como reparos em casas, até mover o ponteiro em aspirações importantes, como reparações.
Na realidade, a medida, conhecida como Voz, é muito mais modesta, tornando algumas destas expectativas bastante elevadas.
Ao mesmo tempo, deu origem a receios irrealistas – como o de os proprietários serem forçados a devolver as suas terras aos povos indígenas – que galvanizaram a oposição à Voz. E com muitos australianos a considerarem o referendo como racialmente divisivo, as sondagens sugerem que a sua derrota é provável.
“Agora sabemos onde estamos”, disse Joe Ross, um líder comunitário em Fitzroy Crossing, da tribo Bunuba, acrescentando que o debate “mostrou o verdadeiro ponto fraco deste país”.
A próxima votação trouxe à tona questões desconfortáveis e incertas sobre o passado, o presente e o futuro da Austrália. Reconhece a sua história colonial como benigna ou prejudicial? Como entende as desvantagens enfrentadas pelos povos indígenas? Deverão as centenas de tribos indígenas que primeiro habitaram o continente ter o direito de decidir se e como fundir as suas tradições e culturas na sociedade moderna, ou apenas ser encorajadas a assimilar?
A Voz foi concebida pela primeira vez por líderes indígenas como uma resposta à desvantagem indígena arraigada e crescente. A esperança de vida na comunidade é oito anos inferior à da população em geral, enquanto as taxas de suicídio e encarceramento são muito superiores à média nacional. Os problemas são mais graves em comunidades remotas, onde alguns povos aborígenes vivem para manter a ligação às suas terras tradicionais.
Especialistas e líderes indígenas dizem que, em geral, os australianos estão conscientes desta desvantagem, mas geralmente não a compreendem. Muitos no país, disseram eles, vêem estes problemas como falhas dos povos e comunidades indígenas, e não dos sistemas que os governam.
É algo pelo qual os australianos sentem uma vergonha colectiva, mas não examinada, disse Julianne Schultz, autora de “The Idea of Australia” e professora na Universidade Griffith.
“A génese da vergonha é quando as pessoas olham para a situação e pensam: ‘Temos alguma responsabilidade pela razão pela qual isto aconteceu – mas não conseguimos perceber’”, disse ela. “E como você esconde isso? Bem, você culpa a vítima.
A Voz, que incluiria o reconhecimento constitucional dos povos indígenas, também foi criticada como desdentada porque não teria poder para criar ou vetar decisões ou políticas governamentais. Mas isto foi intencional, dizem os líderes indígenas envolvidos na criação da medida, que esperavam que fosse benigna o suficiente para ser aceitável para o público australiano.
Uma dessas líderes, Marcia Langton, descreveu-a como uma oferta do povo aborígine ao público em geral, para curar as feridas da colonização e “acabar com a política pós-colonial de culpa e culpa”. Mas com a expectativa de que o Voice fracasse, ela escreveu, “A nação foi envenenada. Não há solução para este resultado terrível.”
Parte do motivo pelo qual as pessoas em Fitzroy Crossing tinham tantas esperanças no Voice era porque muitos se lembram de como as coisas eram melhores sob uma política anterior. De 1990 a 2005, um órgão eleito, a Comissão Aborígene das Ilhas do Estreito de Torres, aconselhou o governo e administrou programas e serviços para as comunidades indígenas.
“Os aborígenes tinham os seus próprios governos”, recordou Emily Carter, executiva-chefe do centro local de recursos para mulheres, que pertence à tribo Gooniyandi. “Eles conseguiram cuidar de suas próprias finanças. Eles criaram regras sobre o trabalho que as pessoas faziam em suas comunidades.”
Esse corpo foi abolido por um primeiro-ministro que disse que o futuro dos povos indígenas “está em fazer parte da corrente principal deste país”, dando o tom para as próximas duas décadas de política.
Desde então, dizem os residentes, essa autonomia foi retirada, os programas de emprego controlados pela comunidade foram substituídos por algo que é efectivamente uma alternativa de assistência social e os serviços foram retirados.
Os líderes indígenas argumentam que este sistema, sob o qual as políticas são decididas, promulgadas e retiradas nas suas comunidades de acordo com o que consideram caprichos dos governos e das ideologias, dá continuidade ao enfraquecimento e ao trauma que as comunidades indígenas têm experimentado desde a colonização. Essa sensação de impotência manifesta-se sob a forma de danos sociais como suicídio, violência doméstica e dependência de drogas e álcool, dizem.
“O que levou à nossa desvantagem foi a nossa exclusão no desenvolvimento do Estado-nação”, disse June Oscar, que é chefe da Comissão Australiana de Direitos Humanos para o programa de justiça social dos Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres, e que vive perto de Fitzroy Crossing.
Em Fitzroy Crossing, uma cidade cercada por mais de 30 pequenos assentamentos aborígines, o impacto histórico da colonização parece imediato. Os aborígenes da região foram caçados e mortos pelos colonos já no século XX. Para proteção, muitos fugiram para estações, ou fazendas, onde foram protegidos pelo governo, mas também despojados de sua cultura.
Lá, eles trabalhavam, geralmente por pouco ou nenhum salário, e muitas vezes eram proibidos de falar suas línguas nativas.
“Nosso povo construiu estações, trabalhou duro – apenas para obter farinha, chá, açúcar”, disse Hobbs, o ancião Walmajarri.
Na década de 1960, em meio a uma pressão para que os trabalhadores aborígenes recebessem o mesmo que os brancos, muitos foram expulsos das estações por proprietários que não queriam o custo extra. Eles se estabeleceram em Fitzroy Crossing e nos arredores, criando o início da cidade que existe hoje.
Num dia de semana recente, quando a temperatura subiu para mais de 100 graus, Eva Nargoodah, 65 anos, sentada à porta de sua casa na pequena comunidade de Jimbalakudunj, a cerca de 90 quilómetros de Fitzroy Crossing, explicou como, por vezes, o elevado nível de cloro na água de abastecimento fez com que os residentes apresentassem erupções cutâneas, olhos lacrimejantes e dores de garganta. Outras vezes, ficava cheio de tanto sal que formava uma camada grossa por cima.
Ela disse que há anos espera por reparos em sua casa, incluindo o preenchimento de buracos por onde as cobras podem entrar. Essa manutenção costumava ser feita pela Comissão Aborígene das Ilhas do Estreito de Torres, mas agora o processo é muito mais lento. E ela falou do seu pai, que fez parte do que é conhecido como a Geração Roubada: povos indígenas removidos à força das suas famílias e cultura num esforço para assimilá-los na sociedade ocidental.
“Eles precisam nos dar algo em troca”, disse ela. Se o referendo do Voice fosse aprovado, ela estava otimista de que “temos o poder”.