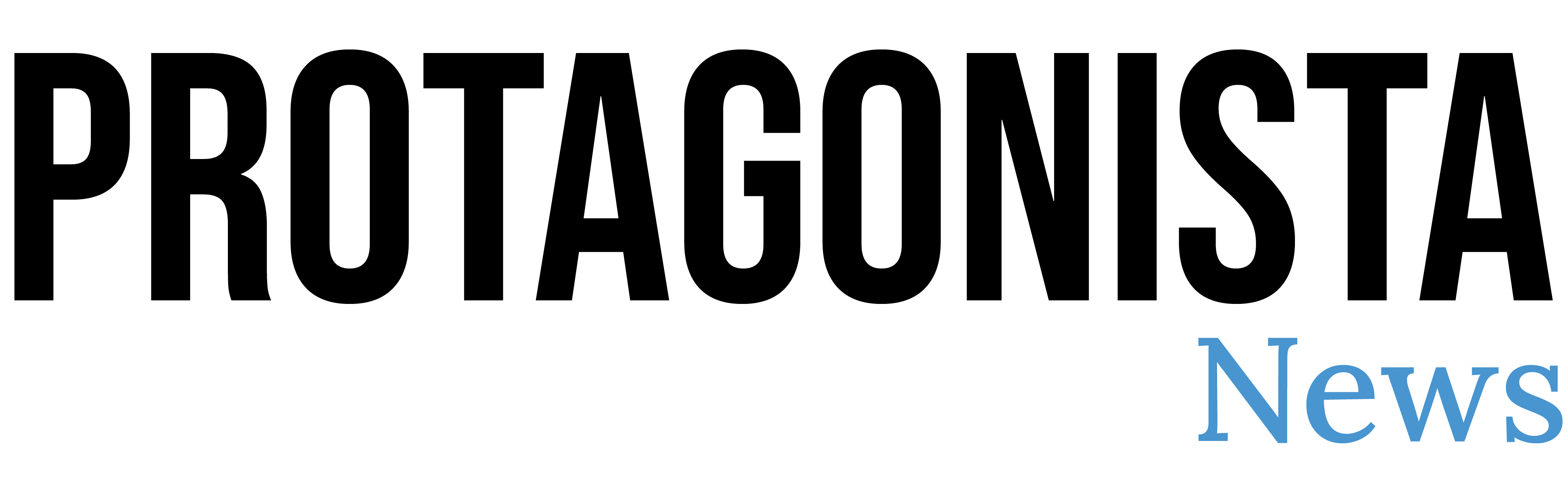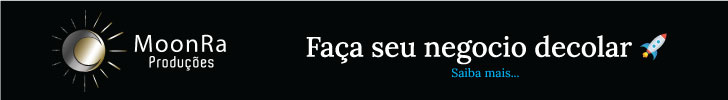TO ensino da história tornou-se um ponto crítico nas guerras culturais. Mas embora a batalha seja acirrada, não é nova. Uma ronda anterior do conflito na década de 1920 – sobre os ensinamentos da Revolução Americana – indica que será crucial que os historiadores intervenham em voz alta e com força durante o debate actual. Isso dar-lhes-á espaço para continuarem a ensinar a versão mais precisa e actualizada da História dos EUA e impedirá que forças que fundamentalmente não compreendem o trabalho dos historiadores moldem o que as crianças americanas aprendem sobre o passado.
No final do século 19, a escrita da história americana era dominada por bons escritores que não eram historiadores treinados. Idealizaram os Fundadores e apresentaram a Revolução Americana como heróica e plenamente justificada.
Depois de 1900, a escrita da história passou para profissionais formados em história recentemente estabelecida, Ph.D. programas. Substituíram a interpretação unilateral e simplista da Revolução pela discussão das complexidades por trás da revolta.
Habituados à reconfortante hagiografia pré-1900, os críticos – incluindo colunistas de jornais, políticos e organizações patrióticas – consideraram a nova interpretação uma afronta. No início da década de 1920, eles atacaram os principais livros didáticos. Os críticos criticaram a forma como os autores-historiadores questionaram os motivos dos líderes revolucionários, bem como as suas reivindicações contra a tirania britânica. Os ataques repercutiram em grande parte do público na sequência da ênfase no “100% americanismo” durante a Primeira Guerra Mundial e no “Susto Vermelho” do pós-guerra.
Em 1921-1922, Charles Grant Miller, colunista do Chicago Arauto e Examinador escreveu uma série de colunas que visavam oito livros didáticos para apresentações supostamente antipatrióticas e pró-britânicas da Revolução. O Arauto e Examinador era propriedade do magnata dos jornais William Randolph Hearst e outros jornais da rede Hearst reimprimiram as colunas. Eles também foram editados e impressos como panfleto. Outros jornais noticiaram as alegações de Miller.
À medida que o furor crescia, os americanos ansiosos sintonizavam-se com o que os seus filhos estavam aprendendo. Nova York, Chicago e outras cidades começaram a investigar os textos históricos usados em suas escolas. Os conselhos escolares e os comités de cidadãos começaram a procurar interpretações pró-britânicas e “antipatrióticas” da Revolução. Grupos patrióticos também entraram na briga. A campanha foi, nas palavras do historiador Joseph Moreauuma “revolta contra os professores” que vendiam o “Anglo-Saxonismo”.
Consulte Mais informação: Por que as leis que visam a teoria racial crítica também me impediriam de ensinar a Segunda Guerra Mundial
Em 1923, uma dúzia de textos populares constavam de pelo menos uma lista de livros suspeitos.
A indignação pública levou as legislaturas estaduais a intervir. Um estatuto de Oregon de 1923 exigia que os funcionários escolares comprassem apenas livros que “enfatizassem adequadamente os serviços prestados e os sacrifícios feitos pelos fundadores da República, o que inculcaria amor e lealdade ao nosso país. ” Wisconsin aprovou uma lei semelhante, enquanto outros estados adotaram legislação menos abrangente. Mesmo alguns estados que não aprovaram novas leis, como Nova York e Califórnia, chegaram perto.
Os relatórios sobre livros didáticos emitidos por grupos de investigação e as próprias leis pararam de proibir livros específicos ou de defendê-los, mas estabeleceram critérios a serem seguidos pelas escolas na adoção de livros didáticos de história. Os educadores começaram a usar a discrição recomendada nos relatórios dos livros didáticos ou exigida pelas novas leis para selecionar livros de história.
O alvoroço pegou os historiadores desprevenidos.
Eles nunca haviam sido atacados de forma tão ampla como esta. Forçou a profissão a apelar ao público, explicando exactamente o que os historiadores faziam, porque era importante, porque precisavam de independência e porque é que a objectividade era tão importante. Historiadores como Charles H. Ward e Claude Van Tyne escreveram cartas ao editor e artigos de opinião defendendo a obra sob ataque e afirmando que os críticos escolheram passagens a dedo, tiraram coisas do contexto e distorceram as mensagens dos livros.
A American Historical Association assumiu a liderança na luta com forte resolução pública em 1923 denunciando a “agitação” e a “propaganda” de jornais e políticos irresponsáveis. “As tentativas, por mais bem intencionadas, de fomentar a arrogância e a ostentação nacionais e a adoração indiscriminada de ‘heróis’ nacionais só podem tender a promover um pseudo-patriotismo prejudicial”, afirmou o comunicado. A afirmação de que milhares de professores e funcionários escolares são “tão estúpidos ou desleais” que dariam aos alunos livros traiçoeiros é “inerente e obviamente absurda”. A determinação da AHA fortaleceu historiadores e educadores e atraiu bastante atenção da imprensa.
Em 1923, o professor vencedor do Prêmio Pulitzer, James Truslow Adams, levou para o Atlântico Mensal defender os textos. Ele argumentou que os historiadores procuravam a verdade e o equilíbrio e tiraram os antepassados dos seus pedestais para os apresentar com precisão como “homens vivos e lutadores”.
Três anos depois, o historiador do Smith College, Harold U. Faulkner, acusou os críticos de vender “a velha, comida pelas traças, desacreditada e perigosa ‘interpretação nacionalista da história’”.
Mesmo assim, alguns historiadores revisaram seus livros para eliminar erros ou para esclarecer pontos que os críticos haviam interpretado ou deturpado erroneamente. Alguns apenas expuseram suas interpretações de forma mais direta.
Livro de David S. Muzzey de 1920 Uma história americana fez várias listas de críticos para explicar que “havia duas opiniões quanto aos direitos coloniais e à opressão britânica”. Esta afirmação sobre a complexidade das questões e motivações que levaram à Revolução tornou-a um pára-raios para os críticos.
Em 1925, Muzzey emitiu um edição revisada. A Revolução foi “um protesto armado contra a invasão do Parlamento Britânico de direitos há muito acalentados pelas colónias americanas”, dizia o novo livro, não deixando dúvidas. A nova edição concluiu que “a separação” se devia “principalmente à conduta do Rei George III” – incluindo a promoção de ministros que favoreciam o confronto, a pressão do Parlamento para a realização de actos coercivos, a recusa de compromissos e a “ignoração de advertências apaixonadas” dos patriotas americanos. A complexidade da edição de 1920 se foi.
Apesar das revisões dos livros, vários jornais de Hearst e alguns jornais independentes continuaram a atiçar a fúria. Mas muitos outros logo começaram a se opor à censura de textos. Os seus comentários editoriais ecoaram o que os historiadores diziam sobre o seu papel e a necessidade de independência.
“A verdade deve ser suprimida só porque é desagradável recordá-la e desacreditável para alguns momentos e para algumas pessoas?” perguntou um Washington de 1925 Publicar editorial. O público estava cansado de ouvir os críticos dos historiadores afirmarem que “a história é algo que pode ser cortado e moldado para se adequar aos propósitos do momento”, disse o influente colunista Walter Lippman no seu livro de 1928. Inquisidores Americanos.
Consulte Mais informação: Como Ron DeSantis poderia acabar ditando os livros didáticos de seus filhos
Dixon Ryan Fox, presidente da Associação Histórica do Estado de Nova York, fez uma avaliação final em um ensaio intitulado “Americanizando a história americana.” “(P)atriotismo é insistentemente prescrito como um ingrediente do ensino de história em muitos países”, observou ele, e o ataque aos historiadores tinha a intenção de forçar isso nos EUA. Ele argumentou, no entanto, que, graças à aplicação frouxa de novos leis e a diminuição da atenção pública para a questão, os críticos só conseguiram obrigar os historiadores a fazer mudanças que deveriam ter feito (e provavelmente teriam feito) de qualquer maneira. Mas Fox alertou que o ataque mostrava que “sociedades propagandistas ou políticos ansiosos por captar os votos de grupos com interesses especiais” poderiam perturbar e desacreditar o trabalho dos historiadores.
Fox estava certo. A questão de quem controla a história nas escolas surgiria periodicamente ao longo do século seguinte, inclusive nos nossos dias.
As lutas de há um século mostram que os historiadores precisam de continuar a explicar o seu trabalho e papel ao público. Isso inclui defender o seu direito e obrigação de apresentar uma história objectiva e baseada em investigação – e de repensar a compreensão histórica à luz de novas evidências, conhecimentos e perspectivas. Essa comunicação é crucial para permitir que os historiadores apresentem aos jovens americanos a melhor compreensão do nosso passado, incluindo os seus capítulos bons, os capítulos maus e tudo o que está entre eles.
Ao não defender afirmativamente a boa história, por outro lado, os políticos, os autodenominados patriotas, os grupos de interesse e os especialistas arriscam-se a desacreditar os historiadores, a marginalizar a história objectiva e a utilizar a história para promover as suas próprias agendas.
Bruce W. Dearstyne ensinou história na SUNY Albany, SUNY Potsdam e Russell Sage College. Ele também foi professor da Faculdade de Estudos da Informação da Universidade de Maryland. Seus livros mais recentes são O Espírito de Nova York: Definindo Eventos na História do Empire State(2ª ed., 2022); O cadinho das políticas públicas: os tribunais de Nova York na era progressista (2022); e Nova York Progressista: Mudança e Reforma no Empire State, 1900-1920 – Um Leitor (2024).
Made by History leva os leitores além das manchetes com artigos escritos e editados por historiadores profissionais. Saiba mais sobre Made by History at TIME aqui. As opiniões expressas não refletem necessariamente as opiniões dos editores da TIME.