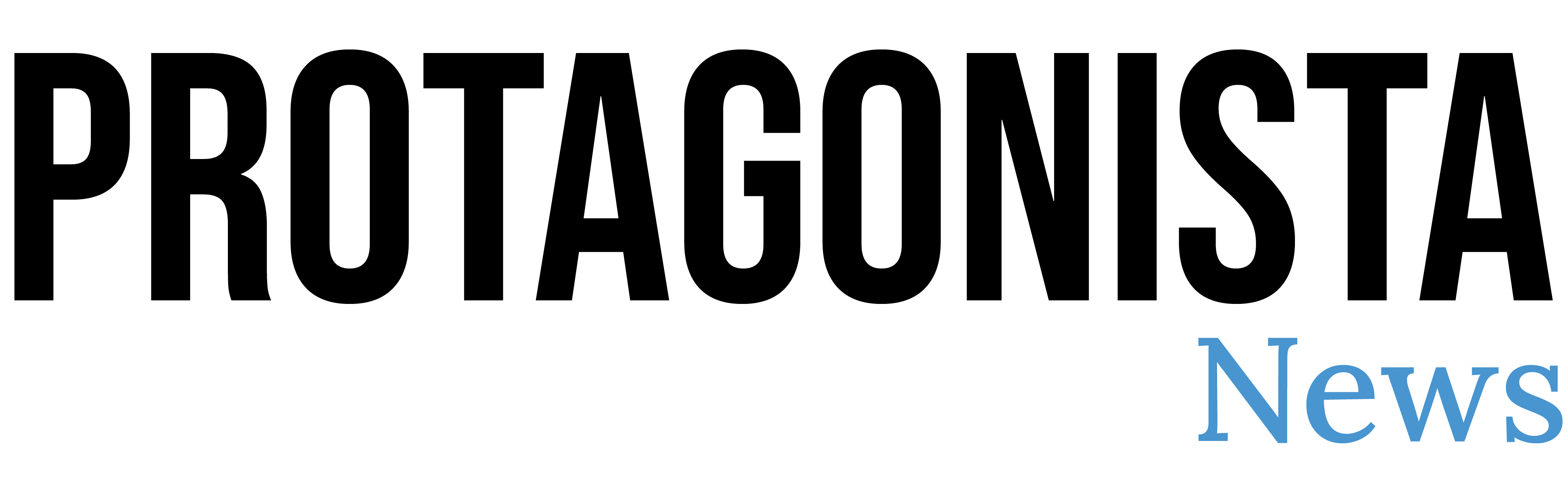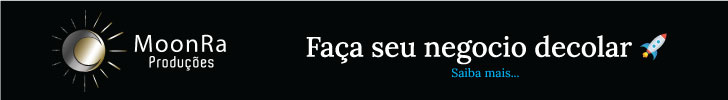A cidade de Ramallah, na Cisjordânia, com 60 mil habitantes, parece uma cidade fantasma. A agitação típica aqui se transformou em um silêncio assustador, quebrado apenas pelo ocasional caminhão de lixo ou pelas sirenes das ambulâncias. Os baques do sistema de foguetes Iron Dome de Israel também quebram o silêncio em intervalos, quando foguetes de Gaza caem perto de Jerusalém ou de seus arredores. As ruas estranhamente vazias reflectem o que as pessoas na Cisjordânia sentem: embora o número de mortos na Cisjordânia e em Gaza aumente para mais de 3.500 pessoas, eles sabem que o pior ainda está para vir.
Em 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel a partir da sitiada Faixa de Gaza, com os seus combatentes abrindo buracos na cerca que separa os dois territórios, usando drones para destruir torres de comunicação israelenses, matando soldados na passagem da fronteira de Erez e prosseguindo principalmente a pé para as cidades próximas. Lá eles mataram cerca de 1.400 pessoas e levaram cativas outras 200, enquanto milhares de seus foguetes choviam sobre Israel.
Quase imediatamente, Israel lançou ataques aéreos contra a Faixa de Gaza, que está sob bloqueio desde 2007 e já viu guerras suficientes para durar uma vida inteira. Famílias inteiras teriam sido mortos em ataques aéreos em torres de apartamentos.
Na Cisjordânia, muitas pessoas que têm famílias em Gaza lamentaram. Yara diz que perdeu a tia e o tio – um juiz e um advogado de direitos humanos –, os seus dois primos, as suas esposas e filhos, incluindo um bebé por nascer, enquanto procuravam abrigo dentro de sua casa. Eles dizem que os corpos de apenas 8 dos 20 mortos foram recuperados até agora. Há também Tahreer que me contou que perdeu cinco membros da sua família – a cunhada e a esposa do primo, bem como os cinco filhos. Muitos mais estão de luto, incapazes de chegar à Faixa de Gaza com as fronteiras fechadas.
Nour Odeh, uma analista política radicada em Ramallah e mãe de dois rapazes, que viveu na Cidade de Gaza durante muitos anos, coloca a questão desta forma: “Os palestinianos na Cisjordânia vêem-se nas vítimas em Gaza, e têm entes queridos, família , amigos e colegas em Gaza”, diz ela. “Eles sentem essa dor. Eles sentem aquela solidão que as pessoas em Gaza sentem. É um sentimento muito punitivo. O desamparo de tudo isso. O fato de que não há nada que eles possam fazer. Eles não conseguem nem recolher medicamentos, alimentos e água e tentam enviá-los para Gaza porque a fronteira está fechada.”
Os residentes da Cisjordânia temem agora que, com o apoio do governo do primeiro-ministro Benjamin Netenyahu, o mais direitista da história, o movimento radical de colonos israelitas utilize a guerra como uma oportunidade para os expulsar das suas casas e tomar mais território. Numa publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter, o grupo israelita de direitos humanos B’Tselem alertou que “Israel também intensificou os esforços para expulsar as comunidades palestinianas e as explorações agrícolas unifamiliares das suas casas e terras, explorando cinicamente a guerra para promover a sua agenda política de apropriação de mais terras na Cisjordânia.”
Durante a semana passada, oito comunidades – que abrigam 87 famílias, totalizando 472 pessoas, 136 delas crianças – foram forçadas a deixar suas casas por causa da violência dos colonos, disse B’Tselem em um comunicado. Comunicado de imprensa.
O risco de violência aqui está sempre presente. Na Cisjordânia, pelo menos 75 palestinianos foram mortos desde 7 de Outubro – nove deles foram mortos só em 19 de Outubro. Num dos períodos mais sangrentos da território desde 2005, pelo menos 120 palestinos da Cisjordânia foram mortos este ano, muito antes do ataque do Hamas a Israel, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Yesh Din, um grupo israelense de direitos humanos, disse em fevereiro que entre mais de 1.500 investigações de violência, apreensão e danos a propriedades e outros crimes perpetrados por colonos israelitas contra palestinianos, um pouco mais de 100 resultaram numa acusação.
A maioria das vítimas foi baleado por soldados israelensesdurante ataques a campos de refugiados em lugares como Tulkarem, Jenin e Nablus, enquanto o resto foi tomada ou esfaqueados até a morte por colonos. Em um incidente, um homem, Ibrahim al-Wadi, e seu filho, Ahmed, foram mortos por colonos enquanto assistiam ao funeral de quatro palestinos que haviam sido mortos por soldados e colonos israelenses um dia antes.
Poucos dias antes da sua morte, em 11 de outubro, falei com Ibrahim, que me disse ter testemunhado um aumento na violência dos colonos israelitas na sua aldeia de Qusra, na Cisjordânia. Os ataques foram implacáveis, disse ele, e concentraram-se na parte sudeste da pequena aldeia, que é cercada por assentamentos ilegais ao sul da cidade de Nablus.
Naquele dia, quatro palestinos foram mortos por colonos e soldados israelenses. No dia seguinte, ocorreu um cortejo fúnebre em Qusra para os homens mortos. Ibrahim e o seu filho, Ahmed, compareceram, assim como muitos outros da aldeia. Mas a procissão foi interrompida quando os colonos chegaram e começaram a atirar pedras. Um motorista de ambulância do Crescente Vermelho Palestino disse ao Haaretz que “os colonos estavam esperando lá. Eles bloquearam o portão e começaram a atirar em nós e em outras pessoas que tinham vindo para o funeral.” Ibrahim e Ahmed foram mortos a tiros.
Antes de ser morto, Ibrahim disse-me que estava preocupado com a possibilidade de os colonos usarem a guerra de Gaza como cobertura para realizar mais ataques. Na verdade, muitos na Cisjordânia sentem o mesmo. “A aquisição da Cisjordânia é feita com esteróides porque agora ninguém está olhando aqui”, diz Nour Odeh. “Ninguém tem tempo para reparar na agenda deste governo (israelense) de desapropriar os palestinianos e livrar-se deles – e é inseparável do que está a acontecer em Gaza.”
Na raiva da Cisjordânia também visa o estado enfraquecido da liderança – a Autoridade Palestiniana, a Organização para a Libertação da Palestina e o partido governante Fatah – todos presididos por Mahmoud Abbas. Embora a OLP seja sobretudo encarada como restos fossilizados do passado, a AP é hoje muito vista como um subcontratante funcional de Israel, especialmente dos seus serviços policiais e de segurança. Embora o Fatah domine a maioria destas estruturas, não é de forma alguma monolítico. O partido tem estado sujeito a múltiplos grupos dissidentes do seu partido político e facções armadas, que ainda são ostensivamente Fatah, mas não recebem ordens da sua liderança. Por exemplo, a Brigada dos Mártires de Al Aqsa em Jenin, o braço armado da Fatah, coordenou suas operações com outras facções armadas sob um grupo guarda-chuva. Isto seria impensável no passado; no entanto, as gerações mais jovens que compõem as bases destas facções vêem isto como pragmatismo e resistem a serem apanhadas nos conflitos políticos internos entre os partidos da geração anterior.
A retórica do lado israelita tornou-se desumanizante e assustadora à medida que uma guerra terrestre em Gaza se torna cada vez mais provável. O ministro da defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou que o exército israelense estava lutando contra “animais humanos”. Diana Buttu, advogada e antiga consultora jurídica da equipa de negociação palestiniana, diz-me que a rotulagem dos palestinianos como “animais humanos” ou “filhos das trevas”, proporciona outra camada de impunidade com a qual Israel pode continuar a matar civis na Faixa de Gaza e também na Cisjordânia.
Chris McGreal, um correspondente do Guardian que cobriu o genocídio no Ruanda, disse que a linguagem que vê vinda dos políticos israelitas é estranhamente familiar. “Durante anos, os líderes israelenses defenderam a limpeza étnica, eufemisticamente chamada de ‘transferência’, com um discurso que retrata os palestinos como um povo falso, sem história que importe”, escreveu McGreal. “Aqueles que lideraram e executaram o genocídio no Ruanda muitas vezes classificam-no na linguagem dos Tutsis como estranhos e intrusos, e o assassinato como um acto de autodefesa”, como em Israel.
Quando o hospital árabe al-Ahli foi atingido no norte de Gaza na terça-feira, os palestinos em Ramallah começaram a sair às ruas. Assombrados pelas imagens dos mortos, muitos deles crianças, alguns expressaram as suas queixas da única maneira que puderam: agarrando nas suas bandeiras e marchando pelo centro da cidade.
Lá, eles gritaram contra Abbas, atirando pedras, cadeiras e tudo o mais que puderam contra as forças de segurança palestinas, que, por sua vez, lançaram bombas instantâneas e gás lacrimogêneo contra os manifestantes.
Abbas estava em Amã na época, reunindo-se com o monarca jordaniano. Ele também estava programado para se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, no dia seguinte, junto com o rei Abdullah II e o presidente egípcio AbdelFattah el-Sisi. A explosão no hospital levou-o a regressar à Cisjordânia e, pela primeira vez desde 7 de Outubro, dirigir-se directamente às pessoas. Abbas disse que os palestinos não aceitariam outra Nakba, ou Catástrofe Palestina, no século XXI e que não se moverão nem se renderão. “Não deixaremos a nossa terra natal nem permitiremos que alguém nos expulse de lá”, disse Abbas.
Mas era muito pouco, muito tarde. “A reação de Abbas foi muito fraca”, disse-me Diana Buttu. “Sabemos que ele não tem exército, marinha ou força aérea, mas tem a capacidade de falar e as suas palavras soam vazias. Isto porque ele está preocupado com a sua própria posição, a sua posição perante a comunidade internacional.”
O sentimento que permeia a Cisjordânia é de solidão e isolamento – e também de vulnerabilidade. Eles sabem que ninguém os protegerá e vêem todas as fraquezas da sua liderança – indiferente, demasiado dependente dos grandes intervenientes internacionais. As pessoas aqui sentem que não têm ninguém que defenda a sua humanidade e o seu direito à segurança, à vida e à dignidade.