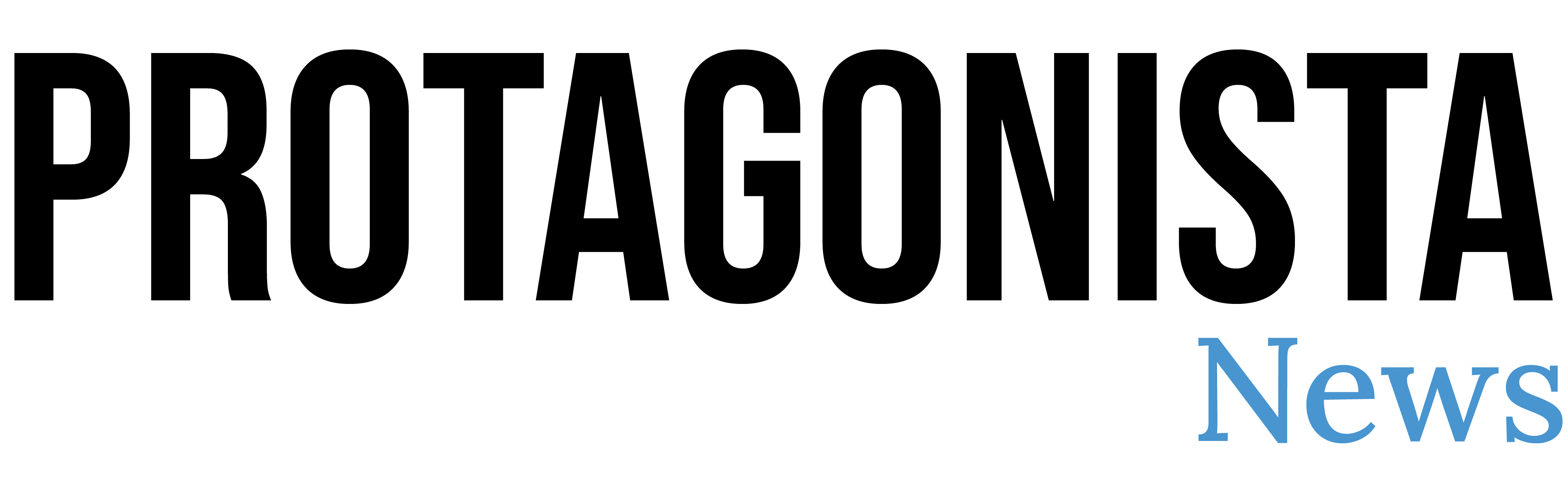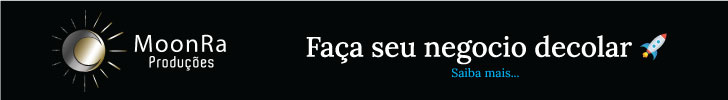Atenção: Este post contém spoilers de Vivemos no tempo.
Vivemos no tempo termina como começa – com uma diferença crucial. Ovos recém-colhidos do galinheiro estão sendo quebrados em tigelas de vidro a caminho de se tornarem café da manhã. Só que desta vez, em vez de uma mulher chamada Almut cozinhando para seu parceiro de dormir, Tobias, é Tobias cozinhando com sua filha, Ella. Ele ensina o jovem aluno a quebrar os ovos em uma superfície plana, assim como Almut, um famoso chef, lhe ensinou nos primeiros tempos. Outra diferença importante: um cachorro adoravelmente desalinhado fica aos seus pés. É um retorno a uma conversa que o casal teve, depois de saber que o câncer de ovário de Almut havia reaparecido e era incurável, sobre como os cães podem ajudar as crianças a se curarem da perda.
É um suporte comovente que fala sobre como mantemos nossos entes queridos conosco, mesmo depois que eles se vão. Almut estava com medo de que ela fosse esquecida ou que seu filho pensasse nela como nada mais do que uma mãe morta. A cena telegrafa o compromisso de Tobias em mostrar a Ella que sua mãe tinha uma vida fora do mundo deles.
Mas é a penúltima cena que exige uma maior dissecação. E é algo que muitas pessoas podem estar prestes a dissecar, pois Vivemos no tempo começa a ser exibido nos cinemas em 11 de outubro: desde a estreia do filme no Festival Internacional de Cinema de Toronto em setembro, o choroso A24 de Brooklyn o diretor John Crowley recebeu críticas em sua maioria positivas. Em um cenário cinematográfico onde filmes voltados principalmente para o público feminino acumularam bilheterias vencee com uma dupla amada e respeitada como Florence Pugh e Andrew Garfield, está claro que o apetite por um romance emocionante dificilmente diminuiu no meio século desde Ryan O’Neal segurou Ali MacGraw em seu leito de morte em Romance.
Mas, ao contrário daquele filme icônico, Vivemos no tempo não nos leva ao leito de morte de Almut. Ele lida com sua morte metaforicamente, aludindo claramente a ela, enquanto mantém seus últimos suspiros fora da tela e deixando os monitores planos para a imaginação. Não é novidade fazer isso – na verdade, remonta a uma longa tradição de expirações fora da tela, especialmente em dramas românticos e familiares. E, talvez de forma contraintuitiva, esta abordagem figurativa acaba por ser mais digna de pena do que a sua alternativa mais literal.
Nesta cena, Almut de Pugh, agora bastante doente, está na Itália para uma grande competição de culinária europeia quando se depara com uma pista de patinação no gelo. É uma coincidência feita para o cinema: Al era uma patinadora competitiva quando adolescente, até que a morte de seu pai, um entusiasta da patinação, tornou muito doloroso continuar. Depois de completar uma receita, ela sai abruptamente da pista de competição – tirando o chapéu de chef como se soubesse que é a última vez, porque é, andando até sua família nas arquibancadas, movendo-se em direção a uma luz brilhante que significa a paz iminente. transição para o outro lado – cortamos para a pequena família deles no rinque. Ela está demonstrando suas habilidades para a novata Ella (Grace Delaney), enquanto Tobias olha com orgulho. Então a vemos no lado oposto da pista. Pai e filha acenam para a mãe de longe, e ela acena de volta, sorrindo beatificamente. Eles estão se despedindo. Há uma sensação de aceitação. Ninguém está chorando. A cena termina e entendemos figurativamente que ela está morta.
Em um nível, isso é coisa de queijo extremo. Isso me fez revirar os olhos enquanto as lágrimas escorriam deles. E ainda, por outro: agradecer ao senhor todo-poderoso por nos poupar de ter que assistir ao último suspiro irregular de Al, tomado entre bochechas encovadas e a melhor maquiagem que não é exatamente um cadáver de Hollywood – e ter que assistir seus entes queridos assistirem isso acontecer . Somos até poupados das consequências imediatas: o caixão sendo baixado à terra, a criança sozinha em um canto enquanto simpatizantes três cabeças mais altos conversam e comem, o viúvo doando suéteres para a Goodwill.
O filme, até agora, foi bastante direto sobre a dor do câncer avançado e o tratamento que assola o corpo na tentativa de evitar a morte. Perda de cabelo, náusea, exaustão, hematomas, sangramento aleatório no nariz, interrupção da intimidade. É tudo tão horrível que Almut pensa em abandonar completamente o tratamento para que ela possa realmente tentar viver por seis meses em vez de sofrer por 12. É também uma questão de indignidades. Em uma cena, ela observa enquanto outra paciente de quimioterapia adormece durante uma infusão, sua peruca vermelha se movendo fora do lugar enquanto sua cabeça cai em direção ao ombro. Uma enfermeira passa e coloca-o de volta no lugar com ternura: a mulher não precisa ficar envergonhada além de tudo, a enfermeira sabe; seu trabalho vai além do puramente físico.
Mas Vivemos no tempo não chega a testemunhar a morte. Está em boa companhia a escolha do roteirista Nick Payne de optar pela sutileza metafórica, especialmente quando se trata de mães jovens e câncer. Qualquer entusiasta milenar da cultura pop que se preze soluçou com o final de Madrasta (1998), quando a mãe moribunda de Susan Sarandon insiste em tirar uma foto de família que inclua a jovem madrasta (Julia Roberts), por quem ela sofre ao longo do filme. As duas mulheres dão as mãos enquanto a Nikon pisca, “Ain’t No Mountain High Enough” faz o espectador chorar e sorrir simultaneamente e a foto escurece, significando sua morte, a família seguindo em frente, mas guardando sua memória com carinho. No obliterador do canal lacrimal de 1988 PraiasHillary de Barbara Hershey está sentada em uma cadeira Adirondack no ar salgado. Ela abraça a filha e volta a observar o sol amarelo se pôr contra o céu lilás. Sua melhor amiga CC (Bette Midler) sorri em sua direção, “The Wind Beneath My Wings” aciona as glândulas lacrimais, e alguém literalmente cavalga em direção ao pôr do sol em um cavalo branco. Corta para limusines funerárias pretas. Em Spike Lee Crooklyn (1994), vemos Carolyn de Alfre Woodard fraca em uma cama de hospital recebendo seus últimos beijos de despedida da filha Troy (Zelda Harris) pouco antes de vermos Troy de pijama, recusando-se a se vestir para o funeral.
Outros filmes seguem o caminho do filme-ou-não-aconteceu. Termos de carinho (1983) nos mostra a morte da mãe de três filhos, acometida de câncer, mas ainda muito bonita, de Debra Winger: sua mão fica flácida ao lado de sua cama de hospital, a câmera apontando para os rostos de sua mãe (Shirley MacLaine) e do ex-marido (Jeff Daniels ), assumindo a perda. Em 2016 Outras pessoasa matriarca de Molly Shannon morre aos 49 segundos de filme – a tela fica preta e só podemos ouvir os sons dos membros de sua família, amontoados na cama ao seu redor, soluçando; não vemos o momento de sua morte, mas o milissegundo seguinte. No ano passado MaestroLeonard Bernstein, de Bradley Cooper, abraça Felicia Montealegre, pálida e fraca, usando lenço na cabeça, enquanto ela agita as pálpebras e geme baixinho; a câmera corta para a janela com vista para o gramado verdejante e o mar. Momentos depois, ele está correndo para o mesmo gramado para abraçar seus filhos em meio à dor.

Não existe uma maneira certa de representar a morte na tela. Os filmes são sobre a vida e a morte faz parte da vida. Se você perdeu um ente querido devido ao câncer ou algo parecido, então os filmes são um gatilho perpétuo, ou uma terapia barata, ou ambos. Se você não consegue acessar essa dor sem um aviso externo, você pode conscientemente sentar-se para assistir a um filme que promete desmagnetizá-los por meio de pura vontade e violinos desmaiados. Há uma linha tênue entre o gratuito e o de bom gosto, o piegas e o real, e essa linha não está localizada no mesmo lugar para todos os espectadores. Uma competição de bochecha molhada entre Praias e Termos de carinho está fadado a estar muito perto para ligar.
Mas no caso de Vivemos no temposenti-me simultaneamente poupado da retraumatização de reviver memórias dolorosas, plano por plano, e convidado a acessar essas mesmas memórias para preencher as lacunas intencionais do filme. Pode-se argumentar que falta à cena o soco no estômago de Winger, Shannon ou Mulligan desaparecendo diante de nossos olhos; é um momento PG em um filme censurado. O filme nos deu sexo e parto, por que parar antes da morte?
Mas para um filme definido pela dor e pela perda, cujo trailer promete te levantar, te despedaçar e depois te expulsar do teatro um pouco mais enrugado com a maneira como a vida dá e depois tira, esta canalização de Tara Lipinski às portas da morte a porta finalmente funciona. Ele continua a longa tradição absurda de “você já sabia que é meu herói”, de Marvin e Tammy dançando alegremente no túmulo da Sra. Sarandon. Um adiamento sem sacrificar uma libertação. As memórias são incorporadas ao mundano como ovos em massa de panqueca. A vida continua. Tem que ser.