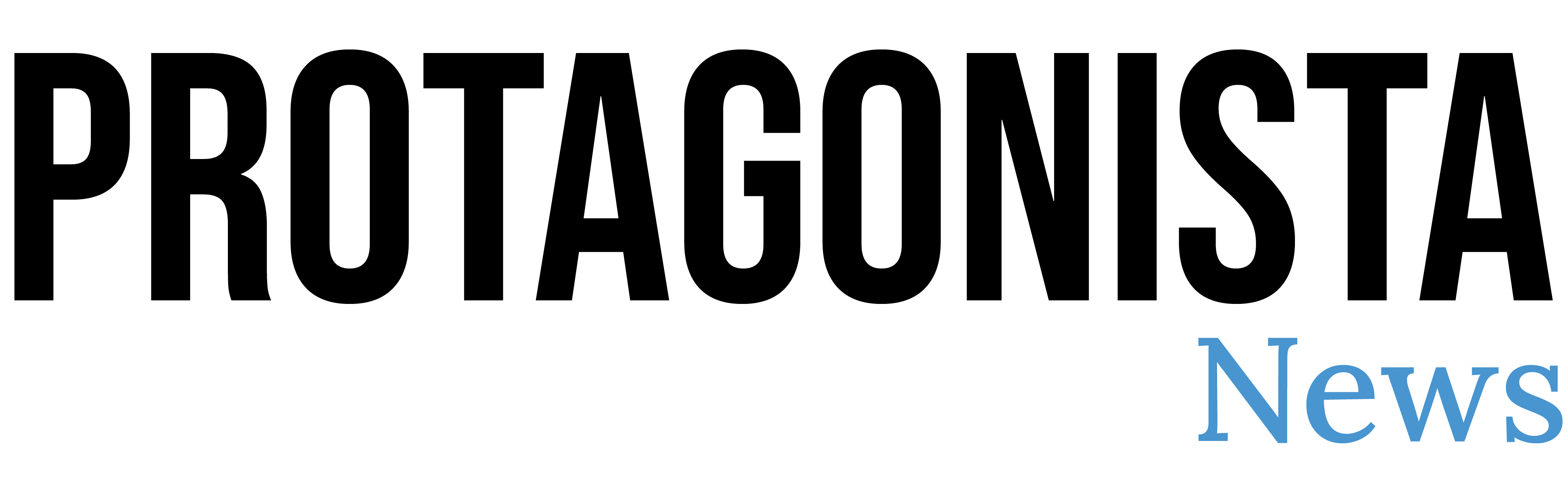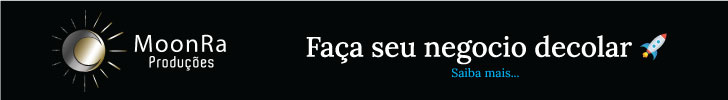EUNa noite de 4 de janeiro de 2025, enquanto eu estava sentado no quintal para jantar com minha família, uma série de explosões explodiu no ar. No meio da mordida, todos nós congelamos e trocamos olhares arregalados. Meu pai quebrou a tensão com uma risada nervosa, e o resto de nós seguiu com risadas inquietas quando percebemos que as explosões eram apenas fogos de artifício vindos do quintal do nosso vizinho – uma comemoração tardia de Ano Novo. Mas enquanto a risada da minha família aliviava o momento, fiquei sentado em silêncio, consumido pela frustração. Fogos de artifício, algo que antes me enchia de entusiasmo e alegria quando criança, agora parecia chocante e errado. Meu primeiro pensamento foi: “É falta de consideração lançar fogos de artifício depois do que aconteceu na Bourbon Street”. Mas enquanto estava ali sentado, tentando processar meu desconforto, percebi que minha frustração não era com meus vizinhos. Em vez disso, foi a constatação de que minha família e eu tínhamos acabado de descobrir mais um sintoma do nosso transtorno coletivo de estresse pós-traumático.
No primeiro dia do ano aqui em Nova Orleans, as habituais mensagens de “Feliz Ano Novo” foram substituídas por mensagens frenéticas de familiares e amigos lendo: “Você está seguro?” Confuso e assustado com a preocupação repentina, quebrei minha resolução de Ano Novo de evitar as redes sociais. Abri o X e lá estava – um ataque terrorista na minha própria cidade, na minha casa. Corri para a sala de estar, onde encontrei meus pais presos na televisão enquanto o noticiário contava a horrível história.
Tal como muitos outros nativos de Nova Orleães, passámos o dia todo colados à televisão, alternando entre canais à medida que as notícias chegavam – cada actualização revelava outro nome, outra vida perdida. A cada anúncio, nos preparávamos, temendo a possibilidade de receber uma ligação do hospital ou do médico legista pedindo-nos para identificar um ente querido atingido por esse ato de violência sem sentido. Tentamos processar o que estava acontecendo e o que isso significava para a nossa amada cidade. Mas, como tantas vezes antes, o processo de luto e cura foi deixado de lado, ultrapassado pela pressa em reabrir a cidade aos negócios. Desta vez foi para o Sugar Bowl. Enquanto os corpos das vítimas ainda jaziam frios nas ruas e os esquadrões anti-bomba trabalhavam para localizar explosivos, a história mudou. Não se tratava mais apenas das vidas perdidas ou do terror que suportamos há menos de 24 horas, mas da rapidez com que a Bourbon Street poderia reabrir. As manchetes enquadraram isso como um triunfo, recorrendo a frases culturais como “Não vou me curvar!” e insistir que a nossa capacidade de avançar com os negócios era o exemplo máximo da nossa chamada resiliência.
Nova Orleans sofreu mais golpes do que deveria. Desde constantes injustiças ambientais até profundas disparidades sociais, parece que não conseguimos descansar. Mas em Nova Orleans processamos a tragédia e o luto de maneira diferente do resto do mundo. Em 2005, depois do furacão Katrina ter devastado a nossa casa, o mundo elogiou-nos pela rapidez com que “recuperámos”. Os meios de comunicação nacionais comemoraram com manchetes declarando a cidade “Aberta para Negócios”. Mas eu me lembro disso de forma diferente.
Eu tinha 13 anos quando voltei para casa, para um bairro ainda sem eletricidade ou mesmo um supermercado funcionando, depois de ter sido deslocado pela tempestade por quase um ano. Naquela primeira noite de volta, meus amigos e eu passeamos pela vizinhança para ver os danos que o Katrina havia deixado e quais de nossos vizinhos haviam retornado. A nossa exploração foi interrompida pelo som de música e risadas, acompanhadas pelo aroma nostálgico da comida reconfortante flutuando no ar. Depois disso, nos deparamos com uma festa no quarteirão onde os vizinhos se reuniram para comemorar por estar em casa e sobreviver à tempestade.
Uma panela de feijão vermelho e arroz estava sobre um fogão elétrico em miniatura colocado ao lado de um DJ tocando uma música que ecoava por quarteirões. No centro de tudo, crianças e adultos dançavam juntos em roda, com movimentos livres e alegres. Meus amigos e eu participamos, deixando o ritmo e as risadas lavarem meses de dor e a incerteza persistente sobre o futuro de Nova Orleans. Naquele momento, descobri um superpoder que todos compartilhamos: resiliência. Estava no nosso espírito, na nossa alegria, na forma como nos reconstruímos, mesmo quando o mundo se esqueceu de nós.
Como nativos, carregamos essa resiliência conosco ao longo do longo caminho para a recuperação – um caminho que nós mesmos pavimentamos, sabendo desde cedo que ninguém viria para nos salvar. Todo mês de agosto, à medida que se aproximava o aniversário do furacão Katrina, eu via a cobertura local e nacional elogiando nossa força, destacando a rapidez com que “nos recuperamos”. Eles mostravam clipes do movimentado French Quarter, Second Lines e Mardi Gras como prova de nossa recuperação. Mas o que eles não demonstraram – ou não se importaram – foi o trauma que Katrina deixou para trás.
Eles não mostraram as crianças sofrendo em silêncio, os lares destruídos que ainda serviam como lembranças dolorosas, ou as famílias que não tinham condições de retornar ou reconstruir. Essas histórias não se enquadravam na narrativa de resiliência que queriam vender. E porque eles não priorizaram essas questões, muitas delas foram suprimidas e muitos de nós nunca foram verdadeiramente curados.
Foi então que comecei a ver a resiliência como uma faca de dois gumes – algo poderoso, mas perigoso quando nas mãos erradas.
Na manhã de 3 de janeiro de 2025 – apenas dois dias depois de Shamsud-Din Jabbar dirigir seu caminhão em alta velocidade contra uma multidão de foliões na Bourbon Street, matando 14 pessoas inocentes e ferindo muitas outras – a rua foi reaberta para negócios. Autoridades municipais, policiais e pastores reuniram-se para um culto de oração no mesmo local onde ocorreu o ataque. Eles se lembraram das vítimas e então, como se fosse uma deixa, o som dos sinos sinalizou o início de um desfile de bandas de música pela Bourbon Street para declará-la “segura” mais uma vez. Naquela tarde, o remarcado Sugar Bowl começou. Simplesmente assim, a mensagem dos líderes foi clara: nem mesmo o terrorismo poderia “nos parar”.
Devo ter ouvido autoridades municipais e repórteres usarem a palavra “resiliência” mil vezes naquele dia. E ainda assim, tudo parecia dolorosamente familiar.
Entendo que o turismo é vital para a economia de Nova Orleães, mas quando é que nós – as pessoas, as vítimas – poderemos fazer parte do processo de recuperação? Quando podemos sofrer? Quando poderemos nos curar antes de sermos forçados a seguir em frente? Esta pressa para ser resiliente e “voltar aos negócios” não traz um encerramento; isso apenas aprofunda o trauma.
A resiliência é, sem dúvida, algo para comemorar. Foi a graça salvadora em tantos momentos em que poderíamos ter sido derrotados. Quer tenha sido o furacão Katrina ou a COVID-19, sempre enfrentamos a tragédia com força e resistência. E faremos – e devemos – fazer o mesmo com este terrível ataque de 1º de janeiro. Mas a que custo?
Em que ponto paramos e nos permitimos espaço e tempo para processar? Para curar? No meu documentário da HBO Katrina Bebêseu disse: “Cabe a mim dizer quando sou resiliente. Não é para você. A resiliência deve ser uma escolha, não algo que nos seja imposto. No entanto, aqui em Nova Orleães, é continuamente imposto – não para o bem-estar do seu povo, mas para o bem dos negócios.
É frustrante e desanimador ver políticos e líderes empresariais imporem-nos resiliência nos seus resultados financeiros, ao mesmo tempo que ignoram as necessidades reais das pessoas. Eles exibem isso como uma medalha de honra, ignorando ao mesmo tempo as feridas mais profundas que nos mantêm em um estado constante de dolorosa sobrevivência. Esta abordagem apenas nos afasta da responsabilização e da acção necessárias para enfrentar as causas profundas das nossas dificuldades.
Estamos cansados da expectativa infinita de sermos resilientes sempre que uma tragédia acontece. O que precisamos agora é de espaço para curar, da chance de descansar e da dignidade de sermos verdadeiramente considerados.