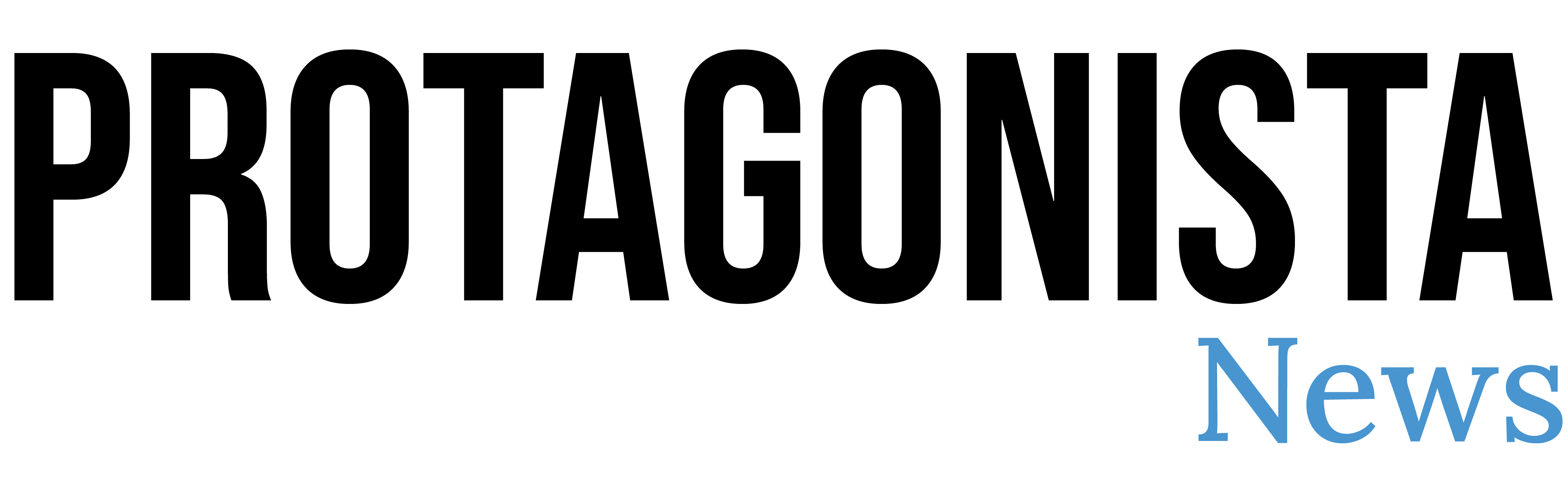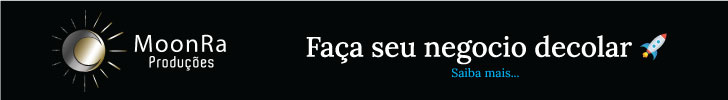TA última frente nas guerras culturais é a América corporativa. É difícil datar com precisão quando surgiu a guerra cultural para as grandes empresas, mas as suas origens são claras. Os manifestantes que encheram as ruas após o assassinato de George Floyd em 2020 exigiram uma resposta das grandes corporações, muitas das quais prometeram dinheiro e emprestaram as suas vozes ao movimento Black Lives Matter. E nos últimos anos, os activistas climáticos finalmente chamaram a atenção de alguns grandes investidores e líderes empresariais quando apelaram à acção em relação às emissões de carbono.
Mas a aurora aparentemente brilhante do capitalismo consciente teve vida curta. O apoio empresarial às medidas de diversidade e aos padrões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) encontrou uma reação negativa intensa. No ano passado, marcas como Target e Bud Light encontraram-se inesperadamente envolvidas em dispendiosos boicotes ao seu marketing LGBTQ. 18 estados aprovaram leis abrangentes destinadas a limitar o investimento ESG e os republicanos da Câmara intimaram grupos ativistas e gestores de ativos na sua investigação sobre se os esforços para mitigar as alterações climáticas violam a lei antitrust dos EUA.
As guerras culturais conseguem abalar antigas coligações, e a guerra cultural corporativa não é diferente. Nesta época eleitoral, muitos políticos proeminentes do Partido Republicano assumiram uma postura decididamente pouco convencional: defendendo a regulamentação dos negócios e chamando pelo nome os inimigos em Wall Street e nas empresas americanas. Não é este o tipo de coisa que a ala esquerda do Partido Democrata faz? Os críticos não resistem em apontar a hipocrisia. Mas, estranhamente, os progressistas encontram-se na posição igualmente invulgar de defender executivos e investidores. Nesta perspectiva, o apoio empresarial ao Mês do Orgulho ou à transição para a energia verde não é o capitalismo desperto – é apenas a forma como se fazem negócios num mundo que está a mudar cultural e ambientalmente.
“São apenas negócios” é uma linha de raciocínio tentadora. Por um lado, oferece uma retirada estratégica do jogo de guerra cultural para um território mais seguro e aparentemente baseado em factos. Por essa razão, é também uma estratégia familiar numa cultura política moldada pela ascensão do jornalismo de verificação de factos. Mas, como sabemos, há limites para a eficácia da verificação dos factos. Por razões semelhantes – e face a poderosas reações políticas e morais – os apelos à neutralidade da procura de lucros provavelmente serão insuficientes.
Esta não é a primeira vez que os líderes empresariais se vêem presos entre visões diferentes e opostas sobre como equilibrar o bem público e o lucro privado. No meu livro, Domando o Polvo: A Longa Batalha pela Alma da Corporação, escrevo sobre os protestos corporativos do final dos anos 1960 e 1970. E essa história é importante para entendermos o nosso momento.
Impulsionados por activistas dos direitos civis e por um coro crescente de movimentos sociais, os protestos empresariais visaram principalmente as assembleias anuais de accionistas – aquelas reuniões anuais que as empresas realizam na Primavera e que são geralmente aborrecidas e previsíveis, excepto quando não o são. Tempo relatou em 1970 que os protestos “destruíram a antiga tranquilidade” das reuniões anuais. Tornaram-se locais dramáticos de conflito entre activistas e gestores sobre questões de direitos civis, igualdade de género, segurança do consumidor, poluição ambiental, direitos dos trabalhadores e muitas outras coisas. AT&T, Boeing, Bank of America e muitos outros foram sitiados. Os activistas utilizaram uma série de tácticas: não apenas perturbações nas reuniões anuais e a utilização de resoluções dos accionistas para fins de interesses sociais e políticos, mas também piquetes, protestos e manifestações em escritórios corporativos.
À medida que os grupos de gestão lutavam para manter o controlo das suas empresas, começaram a fazer concessões. As grandes corporações criaram estruturas organizacionais formais para lidar com questões ambientais, de segurança do consumidor e sociais. Um estudo realizado em 1975 concluiu que 60 por cento de mais de 200 das maiores empresas tinham um executivo ou comité de alto nível cuja função era dirigir programas sociais como o emprego e a formação de trabalhadores desfavorecidos ou a mitigação da poluição do ar e da água. Apenas alguns anos após o início dos protestos corporativos, 90% das empresas cotadas em bolsa incluíam divulgações de responsabilidade social nos seus relatórios anuais.
A ascensão da responsabilidade social corporativa moderna provocou oposição dos conservadores. Em 1970, o economista Milton Friedman escreveu um agora famoso ensaio em Revista New York Times chamado “Uma Doutrina Friedman – A Responsabilidade Social das Empresas é Aumentar Seus Lucros”. Embora Friedman não tenha mencionado especificamente os protestos corporativos, o contexto foi esclarecido pelos editores, que enquadraram o artigo com fotos de activistas e executivos na reunião anual da General Motors nesse ano. De acordo com Friedman, a responsabilidade social corporativa era um projecto fundamentalmente falho porque fundia a acção económica com a acção política, abrindo caminho para conflitos e, pior, para o socialismo. Em suma, forçou os líderes empresariais a escolherem a responsabilidade social em detrimento dos lucros. Friedman reservou o seu maior opróbrio aos líderes empresariais liberais que não conseguiram manter-se firmes contra os manifestantes corporativos e que fizeram discursos sinceros sobre a cidadania corporativa. “Isso pode lhes render elogios no curto prazo”, escreveu ele, “mas ajuda a fortalecer a visão já muito predominante de que a busca por lucros é perversa e imoral e deve ser restringida e controlada por forças externas”.
Muitos dos activistas que pressionaram as grandes empresas para se tornarem mais responsáveis socialmente tendiam a concordar com Friedman, pelo menos num aspecto: por vezes existem compromissos genuínos entre procurar o lucro e fazer o que é certo. Nem sempre, mas às vezes. E se a escolha for entre procurar o lucro e contratar trabalhadores desfavorecidos ou limpar a poluição, a escolha era clara para eles. Apelaram à linguagem moral da democracia e da justiça – e, por vezes, da retidão – nas suas exigências aos líderes empresariais e investidores.
Mas à medida que o calor da organização do movimento diminuía, esta resposta moral ao problema da rentabilidade ficou em segundo plano. Jovens activistas idealistas com experiência em finanças acreditavam que a responsabilidade social teria mais sucesso se estivesse mais claramente ligada à procura do lucro. A ideia básica era que os investimentos socialmente responsáveis poderiam e seriam naturalmente rentáveis – ainda mais rentáveis do que as ações convencionais. “A responsabilização pública por parte das empresas”, afirmou Alice Tepper, uma jovem analista de valores mobiliários e pioneira no investimento social, “levará a uma maior consciência da necessidade de ser socialmente responsável pela simples razão de que será um bom negócio”. O investimento socialmente responsável ofereceu uma saída tentadora para o problema da rentabilidade: eliminar questões de poder político e julgamento moral com soluções de mercado.
Tal como o investimento ESG de hoje, o investimento social da década de 1970 era particularmente vulnerável aos críticos conservadores: uma promessa de que os negócios éticos e a liderança socialmente responsável seriam consistentemente rentáveis – em suma, capitalismo sem compensações. E, à semelhança das estratégias actuais, estes compromissos revelaram-se difíceis de sustentar. Embora algumas “carteiras de paz” e fundos centrados em questões sociais tenham sobrevivido como uma forma de nicho de investimento, o interesse das empresas norte-americanas na responsabilidade social entrou em colapso. As divulgações sociais nos relatórios anuais diminuíram na década de 1980. E um estudo de 1990 sobre 250 das maiores empresas americanas mostrou que nenhuma delas tinha publicado um relatório sobre as suas actividades sociais na década anterior.
Estaremos assistindo a um colapso semelhante? Com a opinião pública americana sobre as grandes empresas em baixa, os executivos estão a distanciar-se de questões controversas e a tentar descobrir como ser líderes sociais sem dizer nada em público que os possa colocar em problemas. Mas num mundo que enfrenta crises ambientais e sociais sobrepostas, “são apenas negócios” foge à visão do movimento pelos direitos civis. No seu próprio momento de crise, esses activistas não apelaram a adiamentos a Wall Street, mas a uma verdadeira liderança e responsabilização perante os trabalhadores, consumidores e outras partes interessadas. Este é o tipo de realismo moral que pode ajudar-nos a ver o que está em jogo na mais recente frente da guerra cultural.