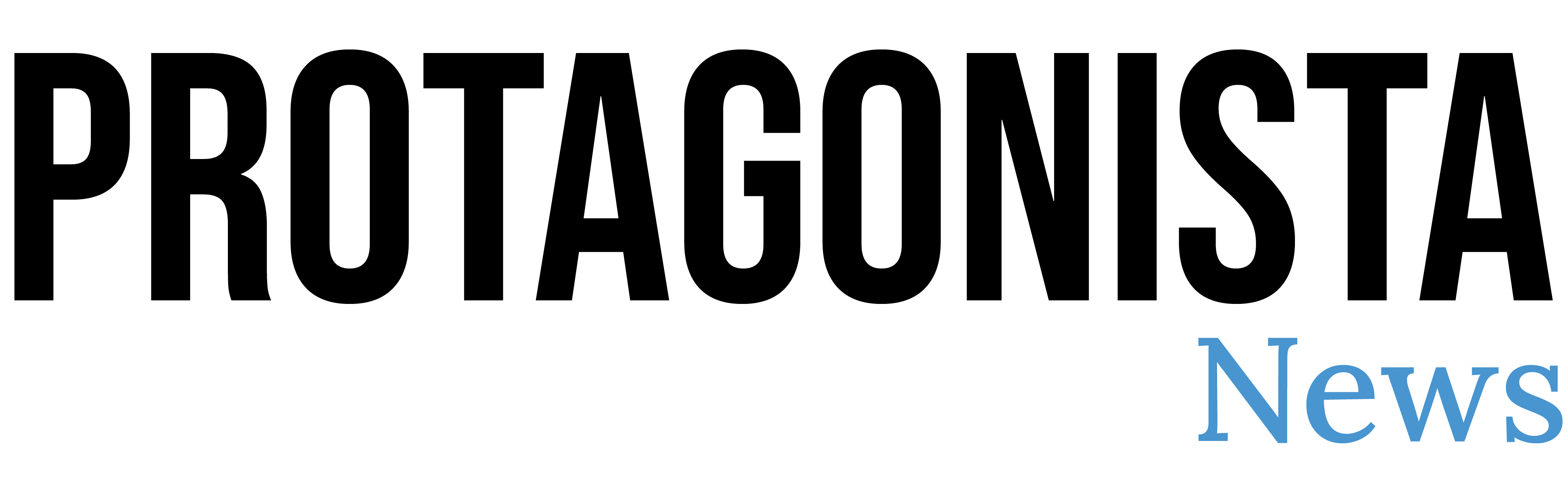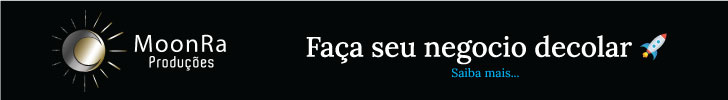Hvocê já percebeu como, assim que tomamos nossas Resoluções rituais de Ano Novo, começamos a nos gabar de como não conseguiremos cumpri-las? E, de fato, a sensação de alívio, até mesmo de prazer secreto, que sentimos ao fazer isso? Na deliciosa confusão da época festiva, quando o ano velho está prestes a morrer e o novo ainda está por nascer, com atrevimento, alegria e auto-ironia em abundância, deixamos tudo passar. “Quero beber menos ou parar de fumar este ano. Mas a quem estamos enganando? Isso nunca vai acontecer!” dizemos a nós mesmos com uma risadinha. Sabemos muito bem que pela manhã, quando a festa terminar, voltaremos à nossa antiga seriedade. Só que agora jogamos o jogo do fim do ano com ainda mais abandono.
Nossas Resoluções de Ano Novo, convenientemente vagas ou irrealistas, falham porque foram feitas para falhar. Porque são feitos meio de brincadeira, num momento desprotegido de liberdade carnavalesca. Para a maioria de nós, esta pode ser a única época do ano em que podemos nos dar ao luxo de zombar do fracasso, mesmo quando zombamos de nós mesmos no processo. O único momento em que podemos retomar o controle de nossas falhas – ou pelo menos sentir que o fazemos. Na maioria das vezes, é o fracasso que nos controla e zomba de nós, e não podemos sequer tentar sorrir enquanto isso acontece.
Pois o fracasso não é motivo de riso. Na cultura ocidental, e especialmente nos EUA, tendemos a associar o fracasso às mais graves calamidades: perda de estatuto social e de respeitabilidade, degradação pública, marginalização, ostracismo. Como o fracasso não gosta de viajar sozinho, sempre que aparece, uma sensação de finalidade e destruição também se insinua.
Há uma boa razão histórica para isso. A maneira como pensamos sobre o fracasso hoje é informada, em mais de uma forma, pelo forte ethos calvinista que desempenhou um papel tão importante na o nascimento do capitalismo moderno no Ocidente. Tal como os primeiros calvinistas, associamos a prosperidade financeira e o sucesso social a um sentimento de salvação pessoal. Ganhar dinheiro, e demonstrá-lo, é um sinal de “eleição” – divina no caso de Calvino, social no nosso. Inversamente, deixar de fazê-lo sinaliza condenação pessoal; Calvino chamou essas pessoas de “réprobas” e as relegou às chamas eternas. Nós os chamamos de “perdedores” e os relegamos, com um toque mais caridoso, às margens da sociedade educada.
Consulte Mais informação: O Guia do Monge Medieval para Resoluções de Ano Novo
Não é de surpreender que o princípio orientador seja o mesmo em ambos os casos: não basta que os eleitos de Calvino sejam salvos. Outros também devem estar condenados. O calor do inferno torna a brisa do paraíso ainda mais refrescante. É apenas em relação aos que perdem que os vencedores são vencedores – e podem sentir-se como tal.
Na verdade, a existência de “perdedores” é a chave para o sucesso do capitalismo como sistema: é o que o mantém em movimento perpétuo e todos em alerta. Tal como os eleitos de Calvino nunca puderam estar completamente certos da sua salvação, e tiveram de trabalhar nisso incessantemente, também os capitalistas precisam de vigiar continuamente a sua retaguarda e certificar-se de que existe sempre uma distância entre eles e a sua concorrência. E como todos estão a jogar o mesmo jogo – e a jogá-lo ferozmente – não nos podemos dar ao luxo de parar. Fazer isso seria permitir que outra pessoa tomasse o seu lugar e se sentisse um “perdedor”. À medida que o ciclo avança, acabamos trabalhando até a morte apenas para permanecermos socialmente vivos.
É por isso que se há algo sem o qual o capitalismo não pode prescindir não é necessariamente o livre mercado ou a propriedade privada, mas algo muito mais humilde: classificação. Graças a ela, os jogadores do jogo capitalista sabem, a qualquer momento, onde estão exactamente, quem está à frente e quem está atrás, quem fez sucesso e quem faliu. Classificamos tudo: países e empresas, universidades, escolas secundárias, livros e filmes – até mesmo indivíduos. Cada um de nós é reduzido a um conjunto de números, que predetermina em grande parte a nossa biografia: pontuação de crédito, pontuação do GPA, classificação da turma na formatura, classificação da universidade que frequentamos. Não somos quem pensamos que somos, mas o que nossos números dizem sobre nós.
As realizações capitalistas, então, podem ter nascido não tanto de algum desejo luminoso de sucesso, mas de algo mais sombrio. O que alimentou todo o sucesso capitalista não foi a alegria, mas o pavor.o pavor do fracasso. Aterrorizados pelo medo de não estarmos entre os socialmente salvos, nunca paramos de trabalhar e de gastar mais uns com os outros. Como resultado, talvez nunca cheguemos à falência oficial, mas sabemos no fundo que, interiormente, já estamos assim há muito tempo.
Em 1853, quando o sistema ainda estava relativamente na infância, Herman Melville publicou seu grande hino à ociosidade, Bartleby, o escrivão: uma história de Wall Street, um livro sobre não fazer nada em um mundo onde todos estavam ocupados fazendo alguma coisa, qualquer coisa. Apenas um ano depois, em 1854, Hendy David Thoreau publicou seu Walden, no qual ele perguntou: “Por que deveríamos estar com tanta pressa desesperada para ter sucesso e em empreendimentos tão desesperados? Se um homem não acompanha o ritmo de seus companheiros, talvez seja porque ouve um baterista diferente.” Não consigo enfatizar o suficiente o quão subversivos os dois livros foram. Ou quão influente. Graças em grande parte a eles, um contracultura nasceu na América que tem tudo a ver com a necessidade de ouvir um “tambor diferente”. Nesta América alternativa, tudo está virado de cabeça para baixo: o fracasso é celebrado em vez do sucesso, e os ociosos, os preguiçosos e outros boémios são figuras respeitáveis, e não o povo trabalhador. Apesar de todo o seu colorido e picante, esta contracultura permanece marginal, o que é provavelmente uma coisa boa. Não haveria graça se tais celebrações se tornassem rotina.
E, no entanto, com a nossa “Resolução de Ano Novo” e o prazer secreto que derivamos do fracasso em mantê-las, esta contracultura irrompe inesperadamente na corrente dominante – mesmo que apenas uma vez por ano, e mesmo assim, sempre de forma culpada.