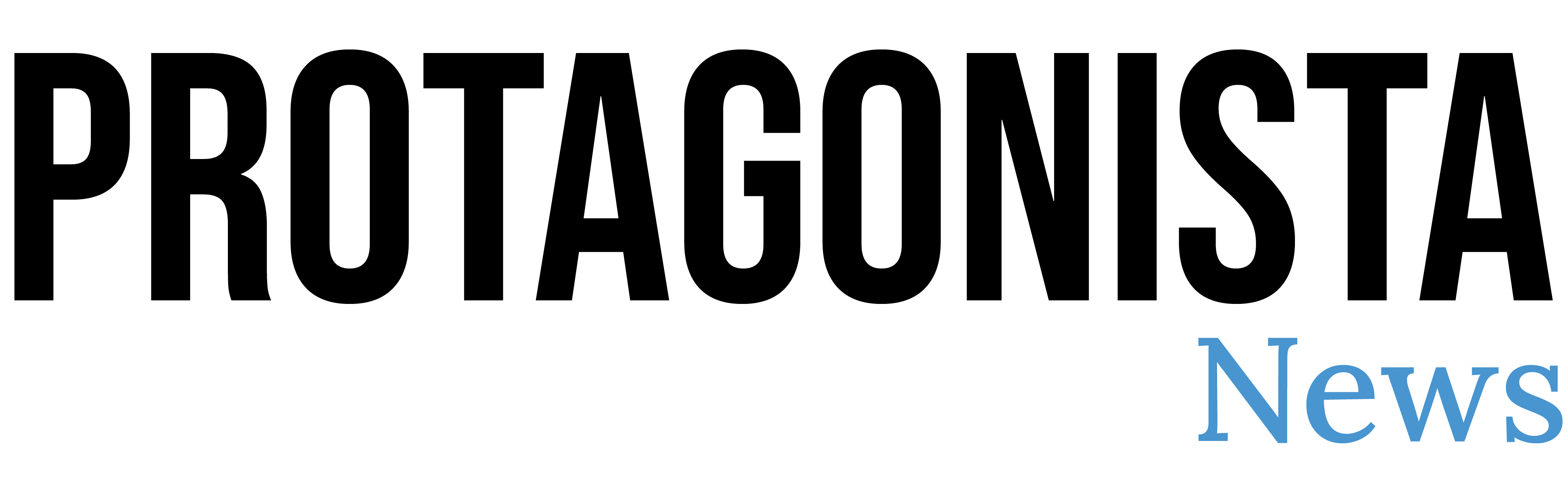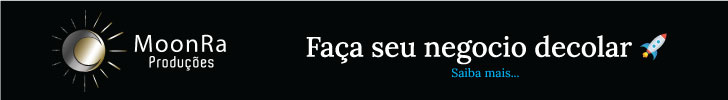Emma Hayes conheceu Megan Rapinoe antes de ela ser Megan Rapinoe. Ou melhor, no momento em que ela estava se tornando Megan Rapinoe. Ela ainda não era vencedora de duas Copas do Mundo, ainda não era campeã olímpica, ainda não era capitã do seu país, ainda não era uma voz poderosa e urgente fora do campo. Rapinoe nem era jogador de futebol profissional naquela época, não exatamente.
O trabalho de Hayes era mudar isso. Em 2008, ela foi nomeada técnica e diretora de operações de futebol do Chicago Red Stars, uma das franquias inaugurais da liga iniciante de futebol profissional feminino. Hayes tinha uma folha em branco para preencher, uma equipe para construir do zero. Rapinoe foi sua primeira ligação.
Essa, talvez, seja a melhor medida de quão brilhantemente brilhou o talento de Rapinoe. Quando o treinador e o jogador se conheceram, Rapinoe tinha apenas 23 anos e saíra da Universidade de Portland, mas a dinâmica de poder já estava a seu favor. Ela não precisou convencer Hayes. Em vez disso, Hayes teve que convencê-la da equipe, do projeto, da cidade.
E então ela mostrou a Rapinoe, nascida e criada na Califórnia, os arredores de Chicago, na esperança de convencê-la de que a mudança para as margens do Lago Michigan seria adequada para ela. Funcionou. Os Red Stars escolheram Rapinoe em segundo lugar geral, antes da primeira temporada da liga.
A WPS não durou. Ele sobreviveu por apenas três temporadas. Quando fechou, Hayes já havia partido há muito tempo do Red Stars. Rapinoe, porém, estava apenas começando.
Por mais que Hayes estivesse convencida da promessa de Rapinoe, nem ela fingiria saber até onde iria. Neste fim de semana, Rapinoe – agora com 38 anos – finalmente encerrará sua carreira. Seu plano é que sua saída seja enquadrada por fita adesiva e fogos de artifício: com um último triunfo, ajudando o OL Reign a conquistar a vitória contra o Gotham FC na final da NWSL, um final adequadamente glorioso para uma carreira brilhante.
Não é exagero dizer que, há mais de uma década, Rapinoe tem sido a jogadora definidora do futebol feminino. Não se trata simplesmente de ela ter sido uma peça-chave na vitória dos Estados Unidos no Campeonato do Mundo de 2015, e a força motriz por detrás do seu novo triunfo quatro anos mais tarde. É que o seu activismo, a sua falta de vontade de calar a boca e jogar, transformaram a selecção feminina dos EUA em algo que transcendeu o desporto. Como consequência, ela ajudou a definir o tom do futebol feminino como um todo.
É apropriado que a chamada ao palco de Rapinoe aconteça no mesmo momento em que Hayes, a mulher que tanto fez para lançar a sua carreira, regressa aos Estados Unidos. Não oficialmente, é claro; nesta fase, o facto de Hayes ser o próximo treinador da selecção feminina dos EUA é apenas um segredo aberto, um facto consumado que deve – por agora – permanecer envolto num cobertor quente de eufemismo.
Fontes anônimas irão apenas ao ponto de dizer que Hayes e o US Soccer foram “em negociações.” O Chelsea, clube que Hayes treinou na última década com considerável sucesso, apenas dirá que o treinador de 47 anos partirá no final da atual temporada para “buscar uma nova oportunidade”Fora da Superliga Feminina da Inglaterra e do jogo de clubes. O que essa oportunidade poderia ser não foi revelado. Claro, talvez ela treine os EUA. Ou talvez ela queira ser bombeira. Ninguém sabe.
Há apenas um fato estabelecido, mesmo que seja de longe o mais saliente. Hayes, vencedora de seis títulos da WSL e cinco FA Cup e facilmente a técnica mais proeminente do futebol feminino na Inglaterra, deixou o emprego. Ela disse a Chelsea que está indo. Isso, mais do que tudo, revela exatamente até que ponto essas negociações misteriosas progrediram.
Não é difícil perceber por que a perspectiva de treinar os Estados Unidos atrai Hayes. A história do time é tão rica que continua sendo o trabalho de maior prestígio no futebol feminino. Dado que ela terá paridade salarial com Gregg Berhalter, técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, também será o mais lucrativo.
Hayes, porém, terá que ganhar esse dinheiro. A última vez que aceitou um emprego nos Estados Unidos, a sua tarefa era ajudar a dar início a uma era. Uma década e meia depois, isso está novamente na descrição do cargo. O contexto, porém, é totalmente diferente. Desta vez, antes do início, Hayes tem que supervisionar o final.
Pode ser vagamente possível considerar a nomeação de Hayes como um retorno – seu currículo de início de carreira também inclui passagens pelo Long Island Lady Riders (que todos podemos concordar que não é um bom nome para uma equipe), pelo Washington Freedom e pelo Western New York. Flash – mas ela não foi contratada por causa de sua familiaridade com o cenário moderno do futebol americano. Ela foi nomeada precisamente porque é uma estranha.
Não é simplesmente que Hayes represente uma ruptura considerável com a tradição. Quase todos os seus antecessores como seleccionador nacional vieram de posições do lado do Atlântico que demoraram a adoptar a tecnologia sem contacto. O trabalho nos EUA foi, em certo sentido, a recompensa pelo sucesso na americano futebol.
Isso fazia todo o sentido. Durante décadas, os Estados Unidos foram a força motriz do futebol feminino. Sua liga profissional, sob qualquer forma, era o padrão ouro do esporte. Jogadores de todo o mundo, onde as competições nacionais muitas vezes eram profissionais apenas no nome, reuniram-se para lá. A seleção nacional foi o ápice desse programa e, portanto, o auge do jogo.
Este verão, porém, deixou bem claro que isso havia mudado. Os Estados Unidos foram eliminados da Copa do Mundo nas oitavas de final. Seu impacto no torneio foi mínimo. O que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia ilustrou uma mudança de poder que já vinha ocorrendo há algum tempo. Duas equipes europeias disputaram a final. Cinco dos oito quartos-de-final eram europeus.
As nações, incluindo os EUA, que retiraram grande parte dos seus esquadrões da NWSL tenderam a cair mais cedo. Foi algo que a própria Hayes percebeu. “Ainda há muito talento nesta equipe dos EUA”, escreveu ela em uma coluna para o The Daily Telegraph durante a Copa do Mundo. “Mas com tantos membros do elenco jogando apenas na NWSL, isso não oferece diversidade suficiente ao seu elenco em termos de jogar contra estilos diferentes.”
Ela escreveu que ficaria “chocada” se os jovens jogadores continuassem a migrar para os EUA para jogar no sistema universitário quando as equipas profissionais recrutavam – e pagavam tão bem – na Europa. No futuro, previu ela, seria “muito, muito difícil” para os EUA recuperarem a sua primazia sem “as conversas certas em torno do seu modelo”.
O facto de Hayes liderar essas conversas é, obviamente, um reconhecimento tácito de que a sua afirmação estava correta. Ao nomear alguém que construiu a sua carreira e reputação na Europa para inverter a realidade de que ficou para trás, o futebol dos EUA está efectivamente a aceitar a verdade disso. Uma era chegou ao fim e é hora de outra começar.
Talvez, então, a final da NWSL deste fim de semana seja melhor vista como um momento de transição. Rapinoe nunca ganhou um título da NWSL. Esta é sua última chance de encerrar sua espera, de completar seu set, de colocar um laço de ouro em sua carreira e em tudo o que ela conquistou e representou.
Que ela teria aquele momento jogando pelo OL Reign – um time controlado, em última análise, por proprietários na França – também seria apropriado, um aceno não apenas para onde o jogo esteve, mas para onde está indo.
Correspondência
Estávamos todos muito ocupados aprendendo sobre a transformação demográfica da Espanha no século 20 na semana passada para Ben Coles para cortar a correspondência, mas gostaria de voltar à sua nota desta semana, em grande parte porque o assunto que ele levantou é um assunto que venho pensando há algum tempo. De certa forma. Da perspectiva oposta, na verdade.
“Todos os times do Everton na tabela atual da Premier League têm um pouco de espaço para complacência nesta temporada?” Ben perguntou, contrariando diretamente o mantra de que tudo é necessariamente o melhor na melhor de todas as ligas possíveis. “Não porque tenham decifrado o código de sobrevivência, mas porque Sheffield United, Burnley, Luton e Bournemouth são tão pobres? Quase parece uma não competição.”
É justo, creio eu, sugerir que as dimensões da batalha contra o rebaixamento parecem ter sido traçadas de forma incomum no início da Premier League nesta temporada. O Sheffield United teve que ser reconstruído rapidamente. Burnley e Bournemouth têm sido muito – alguns podem dizer excessivamente – carregados de talentos jovens e não comprovados. Luton não fez nenhuma tentativa de disfarçar o fato de que não pretendia gastar todo o dinheiro que ganhou com a promoção à Premier League na tarefa de Sísifo de tentar permanecer lá.
Isso não quer dizer que o rebaixamento para qualquer um deles seja uma conclusão precipitada. As coisas mudam, e mudam rapidamente, no início da temporada. Não é inconcebível que, em poucas semanas, o Fulham, o Everton ou o Crystal Palace tenham atingido uma crise, ou que uma daquelas equipas que actualmente parece condenada a uma época de dificuldades tenha encontrado alguma forma. Luton, em particular, parece estar a enfrentar as exigências do futebol da Premier League a uma velocidade considerável, como ilustrou o empate (mais do que merecido) da semana passada com o Liverpool.
Mas há um elemento que funciona contra esses quatro clubes: a qualidade do outro extremo da tabela da Premier League nesta temporada. Mesmo tendo em conta o facto de que o Manchester City irá, com toda a probabilidade, chegar ao quarto campeonato consecutivo, o conjunto de equipas imediatamente abaixo deles é invulgarmente vasto.
Existem oito clubes – Tottenham, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Newcastle, Brighton, Manchester United e Chelsea – que terão ambições justificáveis de qualificação não apenas para a Europa, mas para a Liga dos Campeões, dado que a Inglaterra provavelmente terá cinco emissários em a competição renovada na próxima temporada.
A qualidade geral da liga pode muito bem, na verdade, ser maior do que nunca. Essa afirmação será, evidentemente, rejeitada como preconceito recente, ou exagero intencional, ou simplesmente profundamente ahistórica; tal é o poder da nostalgia que rege a nossa relação com o esporte.
Há uma forte tendência para assumir que o que aconteceu antes foi de alguma forma melhor: afinal de contas, estamos inclinados a lembrar simultaneamente as partes boas do passado (veja aquele gol de Thierry Henry!) e a ver apenas as falhas (Manchester City 6 , Bournemouth 1) do presente.
Mas parece, cada vez mais, que a Premier League está a começar não só a cumprir o bombástico do seu próprio material de marketing, mas também a sua premissa fundamental: pela primeira vez, a maioria dos seus clubes encontrou uma forma de utilizar as grandes pilhas de dinheiro à sua disposição para se tornarem genuinamente bons no futebol. Isso é bom para os clubes, bom para os torcedores e bom para a competição. É menos bom para as equipes envolvidas com pouca preparação.