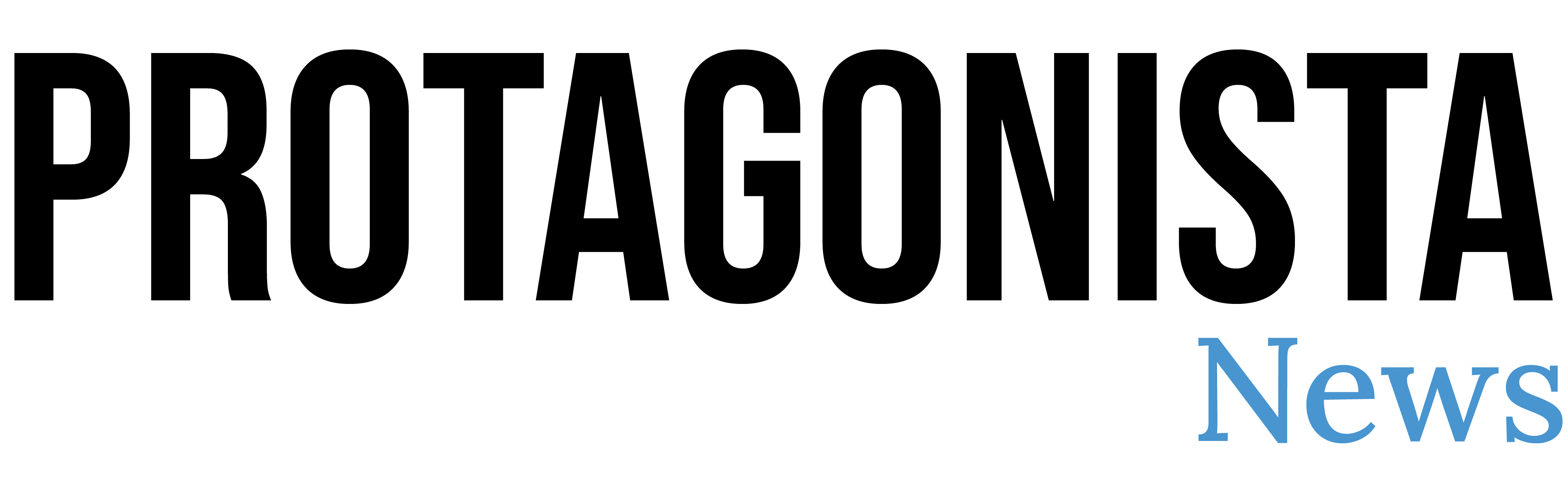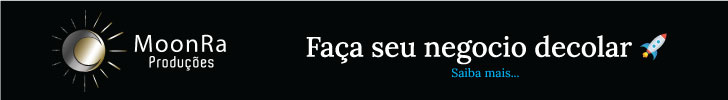Emi, minha mãe, estava pronto. Ela imprimiu um modelo de cédula e preencheu suas seleções. Sua chuleta, ela chamava, uma homenagem às cábulas que as crianças venezuelanas usam quando estão estudando para as provas. Três páginas de candidatos e propostas, desde o Presidente dos Estados Unidos até os curadores das faculdades comunitárias.
Minha mãe, de 71 anos, tinha um ar infantil enquanto segurava a chuleta contra o peito em cima de um envelope pardo, esperando na fila para votar antecipadamente em Wheatsville, um de nossos supermercados locais em Austin, transformado em uma votação lugar. Dentro do envelope ela trazia seu título de eleitor e documentos de cidadão naturalizado. Eu disse a ela que tudo o que ela precisava era de sua carteira de motorista, mas ela insistiu – queria ter provas, caso surgisse alguma coisa.
Ela tinha acabado de se tornar americana no início deste ano, num dia quente de fevereiro no Texas, depois de prestar o Juramento de Fidelidade no Tribunal de Austin. Éramos eu, minha esposa, Brittani, minha filha de seis meses, Ona, e meu pai, Manuel, juntamente com centenas de familiares de outras pessoas, servindo como testemunhas do juramento de naturalização. Perto do final da cerimónia, o juiz destacou os países representados pelas pessoas ansiosas por se tornarem americanos. Tive medo que parecesse um apagamento: você não é mais nigeriano, paquistanês, equatoriano, laosiano, canadense, venezuelano. Mas parecia um acolhimento, você é quem você é, de onde veio e agora também faz parte disso. Numa altura em que é fácil ser cínico em relação à grande experiência americana, a cerimónia pareceu uma lufada de ar fresco muito necessária.
Nosso local de votação inicial estava lotado, a fila tinha pelo menos 30 pessoas. O mercúrio atingiu a marca dos 90, um recorde para o final de outubro. Mas ninguém parecia se importar. Uma mãe e seu filho adolescente estavam na nossa frente. Eu me perguntei se ele tinha 18 anos, se talvez esta fosse a primeira vez que votava também. Mas o bigode era muito ralo, as espinhas eram muitas. Era apenas uma mãe trazendo o filho para votar com ela.
Leia mais: O que dizer para persuadir alguém a votar
Nos últimos meses estive em turnê com meu romance de estreia A liberdade é uma festaonde conto a história de uma família venezuelana dilacerada por um país que parece determinado a tornar a vida dos seus cidadãos o mais difícil possível. Em eventos de livros, leio com mais frequência o que chamo de “cena eleitoral”. Estamos em 1998, a Venezuela está prestes a eleger o esquerdista Hugo Chávez, um candidato que tem conseguido explorar o descontentamento popular sobre a desigualdade que assola a Venezuela há anos, décadas, talvez até desde a sua criação como país. Minha personagem, Emiliana, guerrilheira na juventude, está na casa dos 60 anos e morrendo de câncer. Ela sabe que esta é a última vez que votará. Com a ajuda da filha, eles chegam ao local de votação, trazendo consigo o neto de seis anos, Eloy. Emiliana leva Eloy consigo até a cabine de votação e mostra como votar. Ele coloca a cédula, marcada para Chávez, na urna. Todos nós sabemos agora em que se transformou a promessa de Chávez. A Venezuela, após 25 anos de governo do Partido Chavista, é considerada por todos, excepto pelos actores mais extremistas, como uma terrível ditadura. Apenas em julho passado fraude eleitoral manteve Nicolás Maduro, o sucessor de Chávez, no poder e provocou uma onda de violência e repressão política que resultou em, pelo menos, dezenas de mortos e milhares de presos injustamente.
Ainda assim, essa cena é talvez a minha favorita de todo o livro. Tem algo a ver com a pureza disso. Apenas uma avó, trazendo o neto para experimentar a democracia pela primeira vez. Como a mãe e o filho à nossa frente, indo para a urna eletrônica. E de uma forma estranha e invertida, como minha mãe e eu.
Há meses que Trump tem usado os venezuelanos como bicho-papão. Atenção! Gangues venezuelanas tomaram conta de complexos de apartamentos no Colorado. Cuidado! O governo venezuelano está a prender criminosos e a depositá-los na fronteira entre os EUA e o México para se infiltrarem em nós. Esses repetido falsidades estão encontrando um público bem-vindo. Até mesmo uma boa parte da minha própria comunidade de venezuelanos que vivem nos EUA, que estão migrando para Trump. É difícil compreender como são cegos à semelhança entre Trump e Chávez e Maduro. Podem ocupar lados opostos do espectro político, mas são todos populistas autoritários. O meu grande receio é que, se Trump vencer, haja uma destruição acelerada e sistemática da nossa democracia.

Isso aos poucos; um juiz da Suprema Corte por vez; um pouco de erosão na Lei dos Direitos de Voto aqui, na Lei dos Direitos Civis ali; algumas peças de nova legislação; algumas políticas depois; encontrar-nos-emos num país onde as eleições não serão tão justas como costumavam ser. Onde as cerimônias de juramento de naturalização não têm mais nomes como Restrepo ou Adeyemi ou Zhao ou Farooq. Onde as mulheres não têm a quem recorrer para procedimentos que salvam vidas, se isso tiver alguma coisa a ver com os seus úteros. Ouço os americanos dizerem: “Isso nunca poderia acontecer aqui. Temos guarda-corpos. Temos instituições.” Eu já ouvi isso antes. Lembro-me de familiares e amigos dizendo que a Venezuela nunca “se transformaria em Cuba”. E agora aqui estamos, com Cuba comanda as agências de inteligência da Venezuela. Eu posso dizer isso. Nunca é um único interruptor. Você não perde a democracia em um dia. É passo a passo. Esteja no poder ou não, Trump esteve oito anos sob os holofotes políticos, com o cinzel na mão. Ele quer mais quatro, e todos sabemos que ele vai querer mais depois disso.
Leia mais: Donald Trump sobre como seria seu segundo mandato
Mas a esperança permanece. Ir votar com minha mãe ainda parecia uma democracia. Em seu inglês com sotaque, ela disse aos funcionários eleitorais que era a primeira vez que votava nos Estados Unidos. Eles torceram por ela. Isso fez meu coração crescer e eu chorei, se me aguó o guarapocomo dizemos na Venezuela. Minha mãe estava nervosa com a operação das urnas eletrônicas, então, quando o mesário perguntou se ela queria minha ajuda, ela disse que sim. Fizeram-me recitar o juramento da assistente e assinar um formulário, prometendo respeitar e proteger o seu voto, sem influência.
Eu quase ri. Ela havia me criado — talvez ainda estivesse me educando, porque quando isso realmente acabaria — como uma boa pessoa, um bom cidadão. Se houve alguma influência, foi a dela e do meu pai, que durante anos me mostrou, com palavras e exemplos, o que significava lutar pelo seu país.