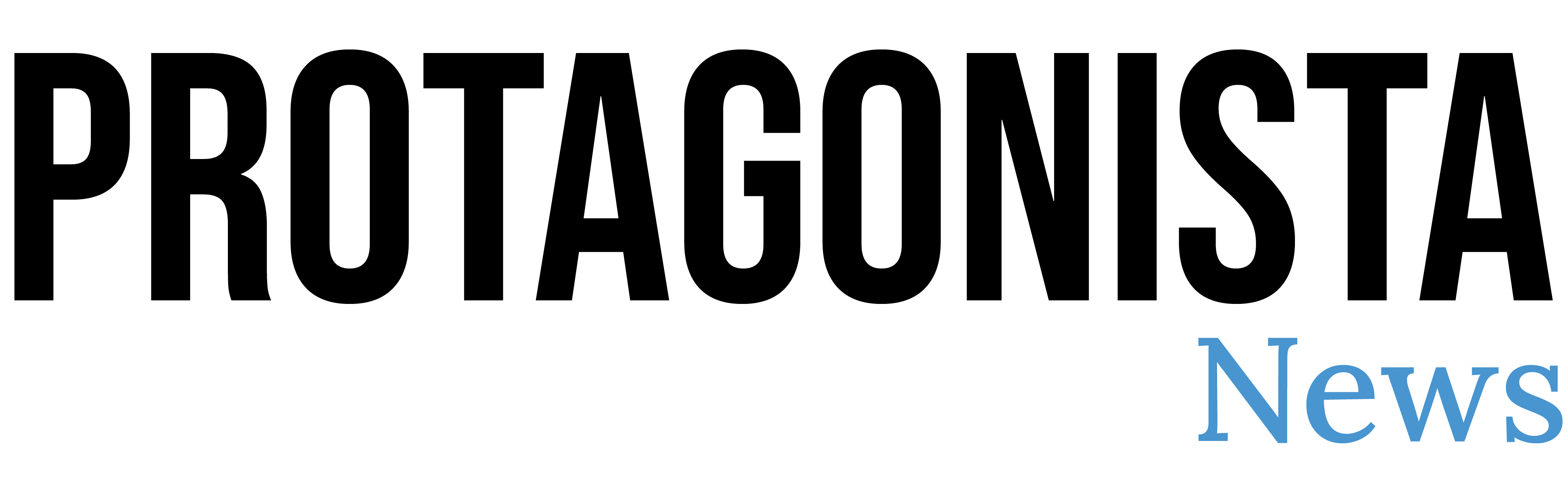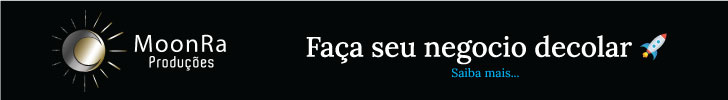Antes que as respostas às perguntas da vida coubessem em nosso bolso, você precisava girar um botão. Se você tivesse sorte, Phil Donahue estaria pronto para guiá-lo em direção à iluminação. Num golpe de sorte de luxo, a Dra. Ruth Westheimer poderia ter parado para ser a iluminação. Ele era o mecanismo de busca. Ela foi um resultado confiável.
Donahue veio de Cleveland. Os óculos do para-brisa, cabelos cada vez mais brancos, olhos de mármore, suspensórios ocasionais e genialidade óbvia diziam “catálogo de fichas”, “gerente dos Reds de 1979”, “gerente de palco em uma produção da Chevy Motors de ‘Our Town’”. Dra. Ruth era o antônimo de Donahue, um escabelo para sua escada reta. Ela mantinha o cabelo preso em um capacete cor de caramelo, imaginava um uniforme de jaqueta-blusa-saia e veio em nosso auxílio, via Alemanha, com uma voz de papel de seda amassado. Nem oito anos os separavam, mas ele era tão infantil e ela era tão experiente que ele era considerado seu neto. (Ela talvez tenha alcançado a axila dele.) Juntos e separados, eles eram funcionários públicos, empresas de serviços públicos americanas.
Donahue era jornalista. Seu fórum era o talk show, mas uma nova linhagem em que a atração principal ultrapassava as celebridades. Pessoas – de todos os tipos – fizeram fila para testemunhar outras pessoas sendo humanas, para experimentar o canal radical de edificação, identificação, curiosidade, choque, admiração, indignação, surpresa e disputa de Donahue, todos visíveis no jackpot televisivo do programa: cortes para nós, reagindo, absorvendo tudo, balançando a cabeça, ofegando. Quando uma celebridade chegou ao palco “Donahue” – Bill Clinton, digamos, La Toya Jacksonos Judds – esperava-se que eles também fossem humanos, que fossem responsáveis por sua própria humanidade. De 1967 a 1996, durante mais de 6.000 episódios, ele permitiu que prestássemos contas a nós mesmos.
O que Donahue sabia era que nós – especialmente as mulheres – estávamos ansiosos, desesperados, para sermos compreendidos, para aprender, aprender e aprender. Chamamos seu trabalho de “apresentador” quando, na verdade, a maneira como ele fez isso, passando aquele microfone por toda a plateia, correndo para cima, para baixo, ao redor, enfiando-o aqui, depois aqui, depois aqui, estava mais próximo de “operador de mesa telefônica”. Era “vendedor de cachorro-quente no Madison Square Garden”. O homem entrou em ação. Ele nos deixou fazer mais perguntas do que ele mesmo – ele apenas editou, interpretou, esclareceu. O igualitarismo governou. Articulação também. E qualquer pessoa que precisasse do microfone geralmente conseguia.
O show era sobre o que estava em nossa mente e o que nunca havia passado por isso. Ateísmo. Nazismo. Colorismo. Parto. Prisão. Estupradores. AIDS. Chippendales, Chernobyl, Cher. Para citar um fetiche, Phil Donahue tentou chegar ao fundo, às vezes tentando ele mesmo. (Nunca esqueçamos o episódio em que ele entrou com uma saia longa, blusa e lacinho de bucetinha para um dos muitos estudos sobre travestis do programa.) Agora é a hora de acrescentar que “Donahue” foi um manhã talk show. Na Filadélfia, ele chegava todos os dias da semana às 9h, o que significava que, no verão, eu poderia aprender sobre compras compulsivas ou mudança de papéis de gênero no mesmo aparelho de TV da cozinha que minha avó.
Sexo e sexualidade foram os temas principais do programa. Havia tanta coisa que precisava de confissão, correção, corroboração, um ouvido emprestado. Para isso, Donahue precisava de um especialista. Muitas vezes, a especialista era a Dra. Ruth, uma dádiva de Deus que só apareceu neste país aos 20 e poucos anos e só apareceu na televisão aos 50 anos. Ruth Westheimer chegou até nós da Alemanha, onde começou como Karola Ruth Siegel e se arrastou enquanto sua vida girava, zombando da ficção. Sua família provavelmente morreu nos campos de extermínio de Auschwitz, depois que ela foi levada para a segurança de um orfanato suíço, onde deveria fazer limpeza. As reviravoltas incluem o treinamento de atiradores de elite para uma das unidades militares que se tornariam as Forças de Defesa de Israel, mutilações por balas de canhão em seu aniversário de 20 anos, pesquisas em uma Planned Parenthood no Harlem, maternidade solteira e três maridos. Ela obteve seu doutorado na Universidade de Columbia, em educação, e passou seu pós-doutorado pesquisando a sexualidade humana. E porque seu timing foi perfeito, ela emergiu no início da década de 1980, um vetor afável da mania de uma época por sábios gnômicos (Zelda Rubinstein, Linda Hunt, Yoda), marcas de obras-primas e o desagradável.
A dela era a idade de Mapplethorpe e Madonna, de Prince, Skinemax e 2 Live Crew. Nos seus programas de rádio e televisão, numa série de livros e numa Playgirl coluna e através de sua abordagem promíscua às aparições em talk shows, ela pretendia eliminar a vergonha do sexo, para promover a alfabetização sexual. Seu sotaque felino e insinuações alegres lançaram, entre outras coisas, o Honda Prelude, a Pepsi, a Sling TV e a Herbal Essences. (“Ei!”, ela diz a um jovem passageiro do elevador. “É aqui que nós saia.”) As instruções do Jogo do Bom Sexo da Dra. Ruth dizem que ele pode ser jogado por até quatro casais; o tabuleiro é vulval e inclui paradas em “Furecimento Infecção”, “Chauvinismo” e “Goose Him”.
Em “Donahue”, ela é direta, explícita, dissipadora, bem-humorada, clara, sensata, séria, vívido. Um terapeuta profissional. Foi Donahue quem cuidou da comédia. Sobre uma visita em 1987uma pessoa que ligou precisa de conselhos sobre um marido que trai porque deseja fazer sexo com mais frequência do que ela. A Dra. Ruth diz a Donahue que se quem liga quer manter o casamento, e seu marido quer fazer isso o tempo todo, “então o que ela deveria fazer é masturbá-lo. E está tudo bem para ele se masturbar também algumas vezes.” O público fica extasiado ou talvez apenas contorcido. Então Donahue enfia a mão no baú de guerra do aluno da escola paroquial e conta a piada sobre o professor que diz aos meninos da terceira série: “Não brinque consigo mesmo, ou você ficará cego”. E Donahue levanta a mão como uma criança no fundo da sala de aula e pergunta: “Posso fazer isso até precisar copos?” Westheimer dá uma risadinha, talvez percebendo o grande par no rosto de Donahue. Esta foi a abertura fria daquele dia.
Eram filhos de vendedores, esses dois; o pai dele trabalhava no ramo de móveis, o dela vendia o que as pessoas da indústria do vestuário chamam de noções. Eles herdaram instalações de um vendedor para pessoas e embalagens. Quando um membro da audiência de “Donahue” pergunta a Westheimer se seu próprio marido acredita que ela pratica o que prega, ela diz que é por isso que nunca o leva a lugar nenhum. “Ele diria a você e a Phil: ‘Não dê ouvidos a ela. É tudo conversa’”, o que faz o público rir.
Mas considere o que ela falou – e considere como ela disse isso. Minha palavra favorita da Dra. Ruth era “prazer”. De boca alemã, a palavra transmite o que falta à língua americana: desdobramento sensual. Ela prometeu falar sobre sexo para grandes audiências usando a terminologia adequada. Malditos sejam os eufemismos. As pessoas esperaram até um ano e meio pelos ingressos para “Donahue” para eles poderia condená-los também. Mas de tudo o que Westheimer propôs, de todos os termos que usou com precisão, o prazer foi o seu produto mais convincente, um presente que ela acreditava que poderíamos dar aos outros, um presente que ela jurava que devíamos a nós mesmos.
Sinto falta do talk show que Donahue reinventou. Sinto falta da maneira como a Dra. Ruth falava sobre sexo. De alguma forma, é apropriado que este católico irlandês antidogmático, mas sacerdotal, unisse forças com um judeu carnal e sortudo por estar vivo para incitar a exploração dos nossos corpos enquanto demonstrava respeito, civilidade e reciprocidade. Eles acreditaram em nós, que éramos todos interessantes, que poderíamos ser palestrantes confiáveis no discurso de estar vivo. Trauma, trivialidade, laqueadura: vamos conversar sobre isso! O medo não parece ter ocorrido a eles. Ou, se aconteceu, nunca foi um impedimento. Corajosamente eles foram. — E com o incentivo dela, viemos com ousadia.
Wesley Morris é crítico geral do The New York Times e redator da revista.