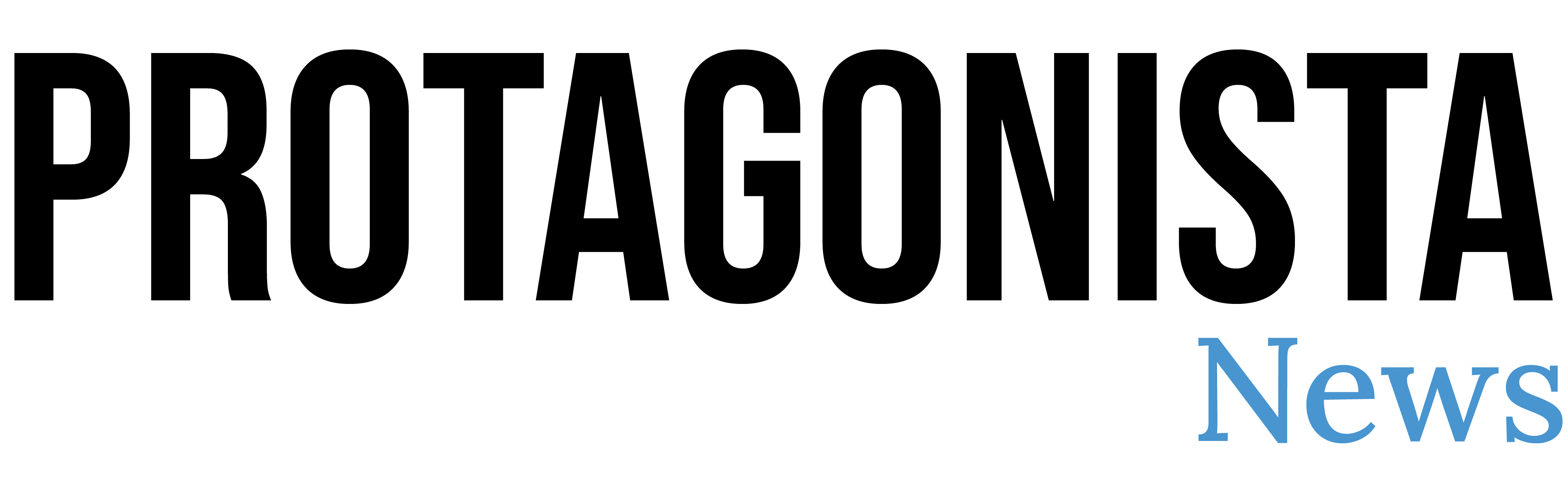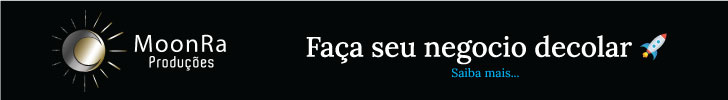Eesta semana, os estudantes retornarão aos campi em todo o país. E o resto da nação estará assistindo. Com uma eleição presidencial se aproximando e uma guerra destrutiva travada por um dos aliados estrangeiros mais próximos do país em andamento, muita atenção será dada neste outono aos campi universitários, aos acampamentos de protesto e aos palestrantes do campus, aos excessos e entusiasmos dos alunos do segundo ano da faculdade. O que levanta a questão do porquê? Por que a obsessão com o que acontece em um punhado de campi universitários, muitas vezes enquadrado em termos de “guerras culturais do campus”?
Os termos da nossa fixação são peculiares. Existe realmente uma cultura que caracteriza vários milhares de campi — faculdades comunitárias, faculdades de artes liberais, universidades de pesquisa, universidades com fins lucrativos e assim por diante — ou mesmo apenas uma parcela significativa delas? O historiador Samuel Catlin colocou isso de forma ainda mais direta em um ensaio no início deste ano: “o campus”, afirmou ele, “não existe”.
Agora menos do que nunca. O campus dos nossos ciclos de notícias é esmagadoramente imaginado como uma instituição de elite — embora os velhos estereótipos de pátios arborizados e edifícios cobertos de hera se apliquem cada vez mais a apenas um subconjunto dessas instituições, um que é muito pequeno, ficando menor. No entanto, a atenção dada a essas escolas e a certeza sobre o que acontece lá só aumentaram. Seja o que for, essa “faculdade” imaginada — seus alunos tanto quanto seus administradores — enlouqueceu. Dizem-nos que costumava ser algo — escolha: um laboratório de ideias, um lugar de debate genuíno — e agora não é mais isso.
Talvez então o problema não seja que as faculdades americanas e a população do país tenham se distanciado. Talvez seja o oposto: os americanos acham que entendem a faculdade muito bem. Muitos jornalistas, especialistas e políticos parecem fascinados com uma versão ficcional do “campus”, uma que se assemelha a uma faculdade que eles próprios frequentaram. Esse “campus” imaginado de forma limitada fornece forragem para uma política reacionária. Ele também diminui nossos debates políticos mais amplos e os ensaia amplamente como pânicos reciclados do campus.
Leia mais: Os protestos que anteciparam os atuais acampamentos de solidariedade a Gaza
A história do nosso superinvestimento no “campus” começa com mais de nós indo para o primeiro lugar. Após a Segunda Guerra Mundial, o GI Bill trouxe mais de 2 milhões de americanos para os campi, diversificando quem ia para a faculdade. E diversificando a aparência dessas faculdades; novas formas de educação terciária, de escolas de deslocamento e faculdades juniores (hoje faculdades comunitárias) a faculdades vocacionais com fins lucrativos, se desenvolveram ou proliferaram. A matrícula mais ampla de americanos em instituições de ensino superior fez com que mais pessoas investissem no que acontecia lá.
Na década de 1960, quando os filhos da primeira geração de beneficiários do GI Bill entraram na faculdade, seus campi às vezes se tornaram um palco para conflitos intergeracionais. Para alguns, o campus se tornou o lugar onde os filhos da afluência americana do pós-guerra falharam em viver de acordo com tudo o que havia sido investido neles, optando, em vez disso, por protestos no campus, política radical e libertinagem.
Na década de 1960, estudantes universitários se juntaram ao movimento pelos direitos civis em números consideráveis. No outono de 1964, estudantes da Universidade da Califórnia, Berkeley, lançaram o Movimento pela Liberdade de Expressão, defendendo o direito dos estudantes à livre expressão. Protestos contra a Guerra do Vietnã logo ocupariam estudantes em campi por todo o país. Todos os olhos estavam subitamente no campus, ou pelo menos em muitos campi. “O campus” estava prestes a se tornar um ponto focal para ansiedades conservadoras sobre ruptura e mudança.
Ronald Reagan aproveitou essas ansiedades em sua campanha de 1966 para o governo da Califórnia: “Não me importo se estou nas montanhas, no deserto, nas maiores cidades do estado”, ele afirmou. “A primeira pergunta é: ‘O que você vai fazer sobre Berkeley?'” Reagan estava mais do que feliz em fornecer o que as pessoas queriam, fornecendo anedotas escabrosas da vida no campus — principalmente maconha, sexo e radicalismo.
A campanha anti-Berkeley de Reagan forneceu um modelo para a política reacionária no futuro; passar por uma demonstração de descontentamento com a universidade foi uma maneira de gesticular em direção (sem sempre admitir) um descontentamento mais amplo com o liberalismo.
Graças aos neoconservadores, que vivenciaram as revoltas nos campi do final dos anos 60 como uma “invasão” de seu idílio, como uma expulsão do paraíso, e que escreveram inúmeros livros refletindo sobre isso, uma geração aprendeu a dar sentido à sua própria deriva em direção ao lado conservador, posicionando essa deriva como uma reação às coisas que os esquerdistas malucos faziam nos campi universitários.
Como Diana Trilling escreveu em suas lembranças sobre as revoltas em Columbia em 1968, a luta deles não era sobre “a ideia abstrata de uma universidade”, mas sim uma defesa da “Universidade viva que deve ser sustentada contra um dia mais são”. Com o que eles sempre quiseram dizer deles universidade: nas mãos desses liberais descontentes, muitos dos quais acabariam neocons, “a universidade” era um substituto para seu campus. Que seus campi eram geralmente enclaves de elite, dificilmente refletindo as instituições que a maioria dos estudantes americanos frequentavam, não parecia importar. Sua genialidade estava em fazer o paroquial parecer global.
Quando se tratava do campus, essas figuras — Norman Podhoretz, Midge Decter, Allan Bloom, mas também Saul Bellow e Tom Wolfe — eram influentes como contadores de histórias. Em seus romances, punditry, sociologia e jornalismo, suas críticas específicas variavam — Bloom, por exemplo, criticava a universidade moderna por seu relativismo moral, Wolfe por sua obsessão com status. Mas foi sua perspectiva geral que moldou o discurso público: “nossas” universidades, como um todo, haviam perdido o rumo.
A geração neoconservadora foi tão influente ao escrever nas décadas seguintes que essa perspectiva se tornou amplamente sinônimo de críticas à vida no campus: a ideia de que a faculdade de hoje se desviou fatalmente da “Universidade viva” de antigamente — antigamente, via de regra, quando o escritor em questão esteve pela última vez em uma universidade.
Pense em quão fácil continua sendo convencer pessoas que foram para a faculdade da ideia de que certos livros “não são mais” ensinados, ou certas palavras “não são mais” permitidas em campi universitários. Qualquer um que tenha frequentado a faculdade, que tenha lido um programa ou passado por requisitos de educação geral, deveria saber melhor.
Por exemplo, em 1988, ouvimos a afirmação amplamente repetida de que Alice Walker A Cor Púrpura era “agora atribuído com mais frequência em cursos universitários do que todas as peças de Shakespeare juntas”. Não era verdade, é claro, cursos sobre Shakespeare ainda são oferecidos em quase todos os lugares. Mas era uma objeção fácil sobre padrões mais baixos em comparação aos dias de faculdade, além disso, era claramente sobre raça sem ter que ser muito explícito sobre isso.
Leia mais: A alarmante e enganosa cruzada de Christopher Rufo contra as universidades públicas
Este é o mundo dos pânicos sobre o Cânone Ocidental e sobre códigos de discurso nos anos 1980, o pânico antifeminista sobre sexo no campus e, eventualmente, sobre o politicamente correto no início dos anos 1990. À medida que mulheres e pessoas de cor faziam algumas incursões nessas instituições, à medida que as velhas hierarquias pareciam ceder um pouco, um coro de observadores chegou para vender ao público em geral a furiosa reafirmação do status quo.
Muitos dos livros que ensaiaram essas várias cavilações do campus foram best-sellers – desde Allan Bloom O Fechamento da Mente Americana (1987) ao romance de Philip Roth A Mancha Humana (2020). Eles retrataram mundos de professores acusados injustamente, de alunos supersensíveis, de departamentos dominados por teorias passageiras e causas de justiça social ainda mais passageiras.
Poucas dessas histórias eram inteiramente sem base, é claro. Mas o discurso de 30 anos sobre “correção política” fez delas “a” história “da” universidade.
Isso obscureceu mudanças radicais nas mudanças econômicas que moldam o ensino superior: os doadores se tornaram mais poderosos, as mensalidades dispararam e as proteções de estabilidade foram corroídas. As histórias do campus são particularmente boas em nos manter falando sobre exatamente nada disso e, em vez disso, obcecados por espaços seguros, alertas de gatilho e DEI.
Atitudes e políticas não são feitas apenas para a pequena faixa de faculdades e universidades pelas quais os formadores de opinião são obcecados. E os pânicos morais de ontem ainda moldam como as faculdades — muitos tipos diferentes de faculdades — são governadas e como são financiadas.
Ao repetir esses tipos de pânico sobre a “cultura do campus”, nos convencemos de que os estudantes universitários, como regra, fazem faculdade de forma errada. E essa convicção sempre tem um lado repressivo. Neste outono, essa repressão pode muito bem se tornar violenta mais uma vez.
Adrian Daub dirige o Instituto Michelle R. Clayman para Pesquisa de Gênero na Universidade de Stanford e é autor de O pânico da cultura do cancelamento (2024).
Made by History leva os leitores além das manchetes com artigos escritos e editados por historiadores profissionais. Saiba mais sobre Made by History na TIME aqui. As opiniões expressas não refletem necessariamente as opiniões dos editores da TIME.